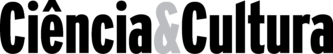A desinformação é um dos maiores desafios contemporâneos à democracia. Em um contexto global de crescente polarização, onde notícias falsas e narrativas manipuladas se espalham a uma velocidade sem precedentes, a luta pela verdade se tornou uma batalha cotidiana. O jornalismo, enquanto instituição, está no epicentro desse conflito, enfrentando pressões externas e internas que ameaçam sua legitimidade e, por consequência, a qualidade da informação disponível à sociedade. Para Eugênio Bucci, professor da ECA-USP e um dos maiores defensores da comunicação ética, a resposta a esse fenômeno está diretamente ligada à preservação dos princípios democráticos e ao fortalecimento do jornalismo plural e responsável.
Eugênio Bucci, com sua longa trajetória na área da comunicação, sempre defendeu que a mídia e a comunicação social são fundamentais para a saúde da democracia. “Sem um jornalismo ético, sem uma comunicação que preze pela veracidade e pela integridade, os pilares da democracia ficam comprometidos”, afirma. Para ele, a comunicação não é apenas uma questão de transmitir informações; ela é um instrumento que molda a opinião pública e, por extensão, as decisões políticas que afetam todos os aspectos da sociedade. Em tempos de crise informativa, em que as redes sociais se tornam veículos de disseminação de desinformação, o papel da mídia tradicional, como o jornalismo impresso e televisivo, se torna ainda mais crucial.
Em uma sociedade democrática, a convivência pacífica e a resolução de conflitos exigem mais do que apenas tolerância; exigem diálogo genuíno e fundamentado em dados e fatos. O que se vê atualmente, no entanto, é uma polarização crescente, alimentada por discursos baseados em crenças e sentimentos, mais do que em informações verificadas e bem fundamentadas. O perigo disso é claro: uma sociedade dividida, onde os cidadãos não conseguem mais concordar sobre o que é real, está vulnerável a manipulações e, eventualmente, ao autoritarismo. Como Eugênio Bucci observa, “a democracia exige a verdade, e a verdade só pode ser acessada por meio de um jornalismo sério, que não se deixe corromper pela pressão política ou econômica.”
A ética na comunicação, portanto, se revela como um pilar central nesse contexto. Quando a mídia abdica de sua responsabilidade ética, o espaço para a desinformação cresce exponencialmente, colocando em risco a própria existência da democracia. A confiança do público na imprensa, que já está abalada pela multiplicação de informações contraditórias e manipuladas, precisa ser reconquistada. A única maneira de garantir que a comunicação cumpra seu papel social é garantir que os profissionais de jornalismo sigam padrões éticos rigorosos, que priorizem a veracidade e a pluralidade. Eugênio Bucci acredita que o jornalismo precisa se reinventar, mas sem jamais abandonar a ética que o tornou uma instituição fundamental na sociedade.
Com sua postura crítica e analítica, Eugênio Bucci alerta para o crescente perigo do autoritarismo que se aproveita da desinformação para enfraquecer as instituições democráticas. A comunicação ética e a preservação da liberdade de imprensa são os maiores antídotos contra a manipulação política e o retrocesso democrático. Neste sentido, ele acredita que a sociedade deve olhar para o jornalismo como um aliado da democracia, capaz de fomentar um debate público saudável e uma convivência civilizada, onde as diferenças não sejam mais uma ameaça, mas um estímulo à construção de soluções justas e equilibradas. Para ele, a verdadeira luta pela democracia é, antes de tudo, uma luta pela verdade.
***
Renato Janine Ribeiro – Vamos conversar sobre desinformação e democracia, tema do próximo número temático da revista Ciência & Cultura, publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) há 75 anos, desde 1949, logo após a fundação da SBPC, em julho de 1948. A questão que se coloca para nós é a desinformação, que hoje vai além da simples “não informação”. Em inglês, há uma distinção entre “misinformation” e “disinformation”: “misinformation” refere-se a enganos, enquanto “disinformation” é algo proposital e produzido. Vivemos, então, em uma era de fake news, um termo elegante e eufemístico para designar mentiras fabricadas em escala industrial com finalidades políticas ocultas, desonestas, e não explícitas. Lembro de um livro seu em que discute a importância da verdade factual para a democracia, um ponto crucial, pois a democracia precisa de diálogo. Para termos diálogo, é necessário concordar sobre alguns pontos em comum, certos fatos. Podemos interpretá-los de maneiras diferentes, mas ainda assim são fatos. Além disso, é preciso consenso sobre valores básicos, como não mentir e não matar, para que seja possível qualquer discussão, ainda que esses valores sejam interpretados de formas diversas. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a importância desse tema para a democracia.
“Essa corrosão da credibilidade afeta instituições fundamentais como a ciência, as universidades, a perícia judicial, o trabalho dos historiadores e a imprensa. Quando essa rede epistêmica implode, a verdade perde seu valor e sua autoridade natural.”
Eugênio Bucci – Essa é uma questão ampla, com muitos ângulos possíveis. Devemos abordá-la com calma e serenidade, evitando julgamentos precipitados. Na sua introdução, você destacou a diferença entre “misinformation” e “disinformation”. Porém, mais do que os termos, a distinção importante está entre os enganos que podem ocorrer nas plataformas chamadas sociais — que, muitas vezes, considero dispositivos antissociais — e os erros intencionalmente produzidos para confundir a população e extrair vantagens indevidas. Há sinais claros de estratégias desse tipo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a extrema-direita antidemocrática ataca o sistema eleitoral alegando que o voto por correspondência facilita fraudes. No Brasil, o discurso é o oposto: diz-se que o voto eletrônico seria vulnerável porque não é registrado em papel. Apesar de se basearem em premissas factuais opostas, o discurso é o mesmo, o que evidencia estratégias intencionais, altamente organizadas, que mobilizam operações técnicas sofisticadas, com profissionais qualificados, maquinário e financiamento. Essa é a essência da desinformação. Por outro lado, existem casos mais simples, como o vídeo que circulou no WhatsApp mostrando os guardas do Palácio de Buckingham marchando ao som do hino do Corinthians. A cadência dos tambores e a marcha davam a impressão de autenticidade. Um grande amigo meu, corintiano e uma das pessoas mais cultas que conheço, acreditou na brincadeira, dizendo: “Essa homenagem é muito justa para o Corinthians.” Apesar de inofensivo, isso demonstra como as pessoas podem ser levadas a acreditar em algo falso. São fenômenos diferentes, claro. O que tenho afirmado é que a desinformação é, acima de tudo, um conjunto de práticas comunicacionais em um ambiente específico. Em uma entrevista antiga, Hannah Arendt observou que o objetivo de líderes autoritários que disseminam mentiras não é fazer as pessoas acreditarem neles, mas fazer com que não acreditem em mais ninguém. Essa corrosão da credibilidade afeta instituições fundamentais como a ciência, as universidades, a perícia judicial, o trabalho dos historiadores e a imprensa. Quando essa rede epistêmica implode, a verdade perde seu valor e sua autoridade natural. Isso caracteriza o ambiente da desinformação. Uma referência importante nesse campo é Claire Wardle, jornalista e pesquisadora que tem contribuído significativamente para o debate sobre desinformação. Seus estudos são adotados por observatórios da imprensa e iniciativas de combate à desinformação. Ela nos ajudou a superar o termo fake news, oferecendo definições mais técnicas e aplicáveis a fenômenos empíricos, permitindo categorização e estratégias de enfrentamento. No entanto, a desinformação é dinâmica, mudando constantemente sua forma e surpreendendo. Apesar disso, parece que a democracia tem desenvolvido mais resistência a essas práticas.
RJR – Você mencionou o jornalismo como instituição. Isso me remete ao laço social, sobretudo ao seu aspecto político, que pode ser revigorado ou ameaçado pela ação política. Gosto de distinguir entre ação e instituição política. Quando discutimos teóricos da política, o ato mais marcante da ação é a revolução, que muda tudo. Mas, no âmbito institucional, talvez o papel do líder seja mais relevante. Em sociedades tão injustas como a nossa, a ação política é essencial. Já em sociedades mais avançadas, o papel das instituições se torna mais importante para assegurar permanência. As instituições modernas surgiram, em grande parte, como resposta ao problema do mau governante na Idade Média, criando mecanismos como a tripartição dos poderes e o equilíbrio entre eles. Essas limitações foram cruciais, por exemplo, para conter o bolsonarismo no Brasil. No caso da pandemia, decisões do Supremo Tribunal Federal permitiram a estados e municípios decretar isolamento sanitário e obrigar a vacinação, enquanto o governo federal fazia campanha contra essas medidas. Assim, considero que, em contextos como o Brasil, a ação política é mais urgente do que a institucionalidade, embora ambas sejam importantes.
EB – Quando pensamos no Supremo Tribunal Federal, que integra o sistema de justiça, vemos que tanto o poder judiciário quanto o sistema maior são instituições vinculadas ao Estado. Concordo que, em momentos de estresse político, a fibra e a competência de indivíduos são fundamentais para a ação institucional. Mas a imprensa é uma instituição diferente, pois sua independência em relação ao Estado é essencial para sua vitalidade. O jornalismo possui elementos institucionais como práticas reiteradas, saber acumulado e reprodução de padrões, mas está fora da esfera estatal. Chamá-lo de instituição exige critério, pois essa nomenclatura pode gerar equívocos.
RJR – Seria a ideia de um quarto poder. Temos os três poderes do Estado e haveria um quarto poder mais ligado à sociedade civil, mais fluido, pois não possui a legitimidade formal do Estado. Eu diria que existem duas fontes básicas de legitimidade: uma pela origem e outra pelos resultados. A legitimidade pela origem se dá, por exemplo, pelo poder executivo, que a obtém por meio de eleições, assim como o legislativo. Já o judiciário tem legitimidade pela indicação consensual entre poderes ou por meio de concursos, pelos quais a Justiça Estadual recruta novos juízes. Por outro lado, há a legitimidade pelo resultado. Se a imprensa, por exemplo, gera bons resultados, ela obtém legitimidade. Isso pode ser estendido a outros setores. Pela minha experiência no Ministério da Educação, vejo que o terceiro setor busca essa legitimidade pelos resultados: se conseguem mostrar resultados concretos, tornam-se legítimos; caso contrário, não. Porém, lhes falta a legitimidade de origem que, por exemplo, o secretário ou o ministro da Educação possuem, dado que sua nomeação deriva de eleições ou da própria estrutura estatal. Além disso, há a legitimidade daqueles que trabalham na rede, como os professores, que se dedicam arduamente, muitas vezes enfrentando dificuldades extremas. A legitimidade da imprensa, acredito, decorre principalmente dessa entrega de resultados. Ou seja, ela cumpre os valores a que se propõe? Esses valores, por sua vez, também se desdobram.
“A imprensa possibilita que a sociedade dialogue sobre o poder, o conteste, e isso é essencial. A liberdade de imprensa, nesse sentido, é a liberdade de criticar o poder.”
EB – Existe um aspecto da legitimidade da imprensa pouco lembrado, mas que me parece central à sua força. O projeto democrático, que deriva do projeto liberal e tem como objetivo derrubar o absolutismo – abolir a monarquia e a ideia de que o poder emana do céu para um soberano –, é parte desse movimento iluminista. Esse projeto liberal evolui para a democracia, e, com ele, surge a necessidade de um mecanismo pelo qual os cidadãos possam fiscalizar, criticar e delegar poder. O Estado concentra os instrumentos para fazer a máquina administrativa funcionar, mas não possui um: o da sociedade conversando consigo mesma. Parafraseando um conceito amplamente difundido, a imprensa cumpre essa função histórica e fundamental para a democracia. Sem ela, a democracia, como mecanismo, deixa de operar. A imprensa possibilita que a sociedade dialogue sobre o poder, o conteste, e isso é essencial. A liberdade de imprensa, nesse sentido, é a liberdade de criticar o poder. É importante distinguir entre liberdade de imprimir e liberdade de imprensa. A primeira precede a segunda. A liberdade de imprensa, no entanto, é o que permite à sociedade se organizar para fiscalizar e contestar o poder, algo que o Estado não faz. Sem isso, o liberalismo não respira e a democracia não funciona. Exemplos históricos, como o Pacto Federativo nos Estados Unidos, foram amplamente discutidos em artigos de jornal – os famosos Federalist Papers. Isso evidencia a imprensa como catalisadora e independente do Estado, imprescindível para o funcionamento da democracia. Na era da desinformação, no entanto, essa mediação pública entra em colapso. Certas interações tornam-se diretas, deslegitimando a imprensa. Muitos aproveitam essa desordem para questionar sua necessidade, acusando-a de falhar em seu papel. Esse fenômeno não é novo; os nazistas, por exemplo, desqualificavam a imprensa como mentirosa. No Brasil, bordões como “globolixo” adaptam esse discurso antidemocrático. Essas expressões buscam vilanizar e abolir a imprensa, transformando-a em inimiga pública, assim como a ciência, as universidades e a justiça. A função histórica da imprensa como instituição independente é estrutural e inalienável. Criticar a imprensa é legítimo, mas buscar sua extinção, como faz a extrema direita antidemocrática, é gravíssimo, pois está intrinsecamente ligado à sua legitimidade. (Figura 1)

Figura 1. A liberdade de imprensa permite que a sociedade se organize para fiscalizar e contestar o poder político, o que é essencial para a democracia.
(Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil. Reprodução)
RJR – Quando estive no Ministério da Educação, observei que programas jornalísticos, como os da Globo News, com jornalistas debatendo entre si, representavam a epítome da ideia de curadoria de notícias. Essa curadoria, que poderíamos chamar de mediação dos fatos, é uma função essencial da imprensa tradicional. Contudo, vivemos hoje a ruptura dessa mediação. A relação do cidadão com os fornecedores de notícias tornou-se direta, o que estimula radicalizações, como vimos em campanhas eleitorais recentes. Essa transformação altera profundamente o papel da imprensa na formação da opinião pública. Antes, a imprensa, de certa forma, moldava a opinião pública – e, em casos extremos, poderia manipulá-la. Embora críticas a essa unilateralidade sejam legítimas, o perigo surge quando passamos do questionamento de verdades específicas para a negação da própria ideia de verdade, como apontou Hannah Arendt. Um exemplo emblemático é o conceito de “fatos alternativos”, cunhado por uma assessora de Donald Trump em 2017. Durante sua posse, ela negou evidências claras sobre a baixa adesão ao evento. Esse episódio escancara a estratégia de distorção da realidade, vista também em setores que negam a elevação das temperaturas globais, tratando-a como mera retórica.
EB – Essa estratégia é alarmante. A incapacidade de diferenciar fatos de opiniões compromete o funcionamento democrático. Quando fatos objetivos, como o aquecimento global ou pandemias, são tratados como narrativas, a política degenera em fanatismo. A política, como destacaram pensadores como Hannah Arendt, exige diálogo racional sobre fatos objetivos para gerar soluções representativas e respeitar os direitos das minorias. Sem fatos, a política é substituída pelo fanatismo, que encontra na desinformação o ambiente ideal. Narrativas distorcidas, como atribuir eventos climáticos extremos ao “castigo de Deus”, ilustram o auge da desinformação, cujo objetivo final é destruir o convívio democrático.
RJR – Só esclarecendo para quem estiver nos ouvindo: a ideia de que toda política hoje deve ser democrática foi algo que propus partindo do seguinte: historicamente, a palavra política é quase sinônimo de poder. O poder pode ser do povo ou da aristocracia. Mas, talvez há cerca de um século, desenvolveu-se muito a ideia de que a política depende da persuasão do outro, do diálogo. Persuadir significa chegar ao outro por meio das paixões, inclusive respeitando-o, e, dessa forma, conquistar a essência dele: o apoio. Isso é totalmente impossível em um regime autocrático ou ditatorial, ou, pelo menos, não é a sua essência. Engatando no que você disse, me parece o seguinte: dado que a alternativa ao fanatismo é algum tipo de moderação, você aponta para esse caráter moderador, esse caráter temperado – talvez até fazendo um jogo com a ideia de climas moderados e temperados, que são aqueles sem excessos, nem muito quentes nem muito frios. Esses climas moderados são onde a vida humana é mais possível. Assim, aparentemente, a democracia seria um regime que modera as pessoas. Penso em uma experiência que vivi há muito tempo e que sempre me diverte: em uma discussão, é frequente – ou, ao menos, acontece – que alguém esteja muito entusiasmado, colocando questões fortíssimas, como se dissesse: “se isso não for resolvido, a humanidade acaba, tudo acaba”. Pode ser sobre aumento de salário, questões climáticas, qualquer coisa. De repente, numa assembleia, o presidente da mesa interrompe e diz: “Prezado, seu tempo acabou” – e passa a palavra a outra pessoa. Ou seja, neutraliza aquele discurso bombástico, que, de certa forma, era apocalíptico. Ele é reduzido a um discurso entre muitos. O discurso fanático praticamente não admite alternativas, não admite alteridade. Como você se preocupa muito com o tema da ética, gostaria que você concluísse falando sobre ética na comunicação, na mídia, na imprensa – enfim, o papel da ética em tudo o que discutimos. Desenvolva esse ponto.
“A incapacidade de diferenciar fatos de opiniões compromete o funcionamento democrático. Quando fatos objetivos, como o aquecimento global ou pandemias, são tratados como narrativas, a política degenera em fanatismo.”
EB – Tenho observado que os horizontes da discussão ética – ou da possibilidade ética – entendida aqui como um ramo destacado da filosofia, uma arena em que podemos refletir sobre os costumes, as regras de convivência e a moral, têm se expandido. Podemos construir a ideia de que, na origem, moral e ética eram equivalentes, mas houve um sutil advento de uma distinção entre ambas. Eu diria que a ética é o pensamento sobre a moral. Mas isso ainda é nebuloso, indefinido. A questão da ética na imprensa, hoje, precisa ser vista de forma mais ampla. Precisamos pensar em uma ética da comunicação. Isso não invalida tudo o que aprendemos sobre ética jornalística. Pelo contrário, considero válida a proposição que Bernardo Kucinski fez há tempos: a imprensa é uma técnica. Eu diria que ela não é apenas uma técnica, nem apenas uma arte – embora tenha elementos de ambas. Tampouco é apenas um discurso, apesar de ser também um discurso. A imprensa é, fundamentalmente, uma repactuação permanente entre confianças, o que lhe confere uma textura ética. Um exemplo claro: o caso das empresas de apostas (bets). Podemos permitir anúncios como os que estão sendo feitos? Isso não se refere diretamente à imprensa, mas à comunicação social como um todo, e precisa ser discutido eticamente. É aceitável que ídolos olímpicos apareçam estimulando crianças e adolescentes a apostar? Já estamos observando manifestações clínicas de adolescentes viciados, resultado desse tipo de publicidade. Trata-se de uma publicidade sem critérios. É urgente refletirmos sobre dimensões da comunicação que vão além da imprensa. Precisamos de uma ética da comunicação, ainda incipiente, mas cada vez mais inescapável. Não estou falando de regulação – embora defenda abertamente a regulação dos meios de comunicação e das pesquisas realizadas por Big Techs. Não sabemos como esses conglomerados estão usando os dados das pessoas, e isso precisa ser regulado. Aqui, no entanto, falo de algo mais amplo: uma ética que abranja redes sociais, publicidade, programas de auditório. É algo além da ética jornalística. E isso me preocupa, especialmente porque a cidadania deveria estar mais informada sobre esses temas. Precisamos rejeitar críticas que não são críticas, mas pregações doutrinárias para deslegitimar a imprensa. A tirania e o autoritarismo não admitem contestação – exatamente como você descreveu. A política e a democracia, por outro lado, são feitas de contestações que convivem entre si. O conhecimento sobre ética na imprensa deveria informar tanto os jornalistas quanto o público. Veja os grandes feitos da imprensa: sempre têm nomes de pessoas, como Patrícia Campos Mello, Jamil Chade, Vera Magalhães, Miriam Leitão. São pessoas de opiniões diversas, mas que enfrentaram resistências dolorosas e, muitas vezes, foram vítimas de violência por setores intolerantes. Defender a imprensa, como instituição, é vital. (Figura 2)

Figura 2. Deslegitimar a imprensa, desqualificar a ciência e transformar em inimigas instituições que criticam e se contrapõem ao poder colocam a democracia em risco.
(Foto: George Marques. Reprodução)
RJR – Veja nossa imprensa. Ela normaliza a extrema direita, chamando-a de direita. Isso é incomum. Os grandes jornais europeus chamam extrema direita de extrema direita. Aqui no Brasil, houve cedo uma normalização do extremismo antidemocrático, tratado como direita, e, às vezes, até como centro-direita. Isso impacta a legitimidade da imprensa. Historicamente, a legitimidade da imprensa não é de origem, mas de resultado. Ela não é legítima apenas por existir, mas pelo produto que entrega. E esse produto desempenha um papel crucial no equilíbrio de poderes. A imprensa precisa respeitar sua própria liberdade, que não é uma propriedade, mas um mandato. O jornalista é um fiel depositário dessa liberdade, cujo titular é a sociedade. Esse mandato exige responsabilidade. A liberdade de imprensa é essencial, mas nunca uma carta branca.