Onde estavam os indígenas na Semana de Arte Moderna de 1922? Se por um lado o grande evento modernista em São Paulo foi marcado pela ausência de artistas indígenas, por outro as referências da cultura dos povos tradicionais estiveram muito presentes no Modernismo, constituindo sua essência antropofágica.
“O momento alto do Modernismo paulista é totalmente impensável sem as referências indígenas, sem a percepção — para usar uma frase do Manifesto Antropófago — de que ‘já tínhamos a língua surrealista’ (algo que Raul Bopp mobiliza em ‘Cobra Norato’ e sobre o qual teoriza depois); (o Modernismo) é impensável sem a percepção de que as formas modernas estavam, por assim dizer, ‘aqui’”, destaca o professor Alexandre Nodari, do Departamento de Literatura e Linguística e dos Programas de Pós-Graduação em Letras e Filosofia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Esta “presença” dos povos tradicionais, embora significativa, acontece assim de forma indireta — ou seja, sempre por autoria de artistas não-indígenas. Porém, mesmo com a ausência de artistas indígenas na Semana de Arte Moderna de 1922 e com a apropriação de elementos de sua cultura por artistas não-indígenas, os povos originários foram importantíssimos para a estética do Modernismo. Na avaliação do artista indígena Denilson Baniwa, os modernistas eram pessoas da elite brasileira que viajavam para Paris e visitavam as fazendas dos seus pais no Brasil, e que num certo momento, para atender a uma demanda externa, se viram em busca de uma identidade, “de um sentido nacionalista ou brasileirista”. “Mas isso nasceu na Europa e fez com que os modernistas tivessem uma emergência de se dizerem brasileiros”. Nestas circunstâncias, diz o artista, “eles esqueceram de fazer isso com cuidado e só conseguiram pegar uma parcela da cultura indígena, de uma maneira que o indígena fica caricato”.
Apesar de a presença de temas e figuras indígenas em 1922 ter sido escassa, sobretudo se comparada ao que seria visto depois, na segunda metade da década de 20, quando essas referências se tornariam centrais, “no geral, os artistas fizeram, naquele momento, o que era possível fazer”, afirma Eduardo Sterzi, professor de Teoria Literária no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária da mesma universidade. A leitura que o pesquisador faz é que os artistas “combinaram uma visão que passava inevitavelmente por certo exotismo, um certo olhar marcadamente de fora (afinal não eram eles mesmos indígenas), com uma compreensão por vezes especialmente aguda do pensamento indígena. Isto se vê exemplarmente em ‘Macunaíma’, onde a imaginação mítica transtorna e transforma a própria forma do romance, e na Antropofagia oswaldiana, cujo ponto de partida é um entendimento ímpar do que estava em questão na antropofagia ritual tupinambá — e, nisto, Oswald é um discípulo direto de (Michel de) Montaigne, com seu ensaio genial sobre os ‘canibais’”.
Sem as referências indígenas, portanto, Sterzi acredita que, “em seu conjunto desdobrado no tempo, para além da Semana, o Modernismo brasileiro teria sido muito diferente disto que conhecemos hoje, e certamente muito menos interessante do que é”.
Fonte de inspiração
Os povos ameríndios aparecem no Modernismo por volta de 1927/28, quando há uma inflexão no movimento modernista paulista.
Entre as referências indígenas que inspiraram os modernistas, o professor Alexandre Nodari cita os próprios relatos coloniais, especialmente sobre povos tupis, e o Dicionário Tupi-Guarani do jesuíta Antonio Ruiz de Montoya, além das obras de proto-etnógrafos e compiladores/tradutores de mitos, entre os quais Nodari destaca “O selvagem”, de José Vieira Couto de Magalhães, e o livro de Capistrano de Abreu sobre os Kaxinawá (hoje auto-denominados Huni-Kuĩ) cujo título é “Rã-txa hu-ní ku-i, a Língua dos Caxinauás do Rio Ibuaçu, Afluente do Muru”, por J. Capistrano de Abreu.
“O momento alto do Modernismo paulista é totalmente impensável sem as referências indígenas.”
Há ainda, segundo Nodari, “A Lenda de Jurupari”, da região do Rio Negro, escrita em nheengatu pelo indígena Maximiano José Roberto e traduzida ao italiano por Ermano Stradelli (os “originais” teriam se perdido); a “Poranduba amazonense”, de Barbosa Rodrigues; e “Lendas em nheengatu e em português”, de Brandão de Amorim. “Obra que Lúcia Sá Rebello diz que devemos considerar não uma fonte modernista, mas uma obra ela mesmo modernista”, diz o professor.
Nodari finaliza suas citações de referências indígenas com obras os mitos taurepang e arekuna sobre Makunaimî, transcritos pelo antropólogo alemão Theodor Koch-Grünberg a partir dos relatos de Mayuluaípu e Akuli, que serviram de inspiração para Mário de Andrade em sua obra “Macunaíma”, lançada em 1928.
“O que Mário de Andrade fez foi pegar este mito e transformar na imagem do que seria o brasileiro. Ele pegou várias partes do mito. Mas foi uma inspiração bem errada, porque Mário de Andrade não tinha conhecimento dos Macuxi”, declara Baniwa. Ele conta que o mito Makunaimî é originário do povo Macuxi, de Roraima, etnia à qual pertencia o artista Jaider Esbell, que se declarava neto da entidade.
“Makunaimî é como um deus, uma entidade, que existiu no começo do mundo, na criação dos Macuxi. Ele não é bom nem ruim. Não é uma pessoa cheia de vícios e malandragem, como no livro. Mas eu não tenho raiva de Mário de Andrade, nem penso que ele é ladrão. Tanto que eu estou servindo ele na minha obra (“ReAntropofagia”, 2019), porque acho interessante. Ninguém vai comer o que não gosta. Além disso, se não fosse Mário de Andrade, não existiria o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), tão importante para a cultura indígena”, diz Baniwa.
Resposta indígena
Para o artista, o que houve “foi um atropelamento do tempo das coisas que acabou por desconfigurar estas criaturas transformando mais em um símbolo do movimento, sem que houvesse respeito ao mito. Mas foi importante tudo acontecer para que hoje os artistas indígenas pudessem reivindicar estes lugares. Tudo segue um ciclo. O que está acontecendo hoje é uma ReAntropofagia, que é o nome da minha obra. É um retorno a este lugar, para revermos o que foi perdido em 1922”, conclui Denilson Baniwa.
Baniwa pintou em 2019 o quadro “ReAntropofagia” (2019, técnica mista com base acrílica, 100 cm X 120 cm), que hoje está em comodato na Pinacoteca de São Paulo, onde permanecerá até 2023. A tela retrata a cabeça de Mário de Andrade cortada dentro de um cesto. “O trabalho em si é uma crítica ao Modernismo, mas muito mais que uma crítica ele é uma oferenda, para que os artistas indígenas possam devorar, possam se servir. É como se eu juntasse o repertório modernista e entregasse aos indígenas para que comam e desenvolvam sua arte. É sobre antropofagia após tantos anos de colonização e sequestro da arte e cultura indígenas”, explica Baniwa.

Figura 1. Referências indígenas estão presentes nas obras dos modernistas e introduzem os artistas nos debates políticos da época e na busca de uma identidade nacional
(“Makunaima”, de Jaider Esbell. Reprodução)
Alexandre Nodari vê na obra de Baniwa, “ReAntropoagia”, um caráter polêmico e agonístico, “no bom sentido”. “Ele participa junto a manifestações de outros artistas indígenas contemporâneos, como Gustavo Caboco e Jaider Esbell, que recentemente nos deixou, de um gesto eminentemente crítico que consiste, creio, não em colocar Macunaíma e a Antropofagia em questão, afinal, Denilson propõe a re-antropofagia, mas de recolocá-los como questão, o que a monumentalização do Modernismo na historiografia e nas escolas impedia de fazer”, diz o professor. “A potência disso está em que se trata de uma resposta indígena a essa monumentalização, o que muda os termos da questão”, conclui.
Chances para a eternidade
Sterzi lembra que Esbell narra uma conversa dele com Makunaimî sobre o livro de Mário de Andrade, em que seu avô teria lhe dito: “Meu filho eu me grudei na capa daquele livro. Dizem que fui raptado, que fui lesado, roubado, injustiçado, que fui traído, enganado. Dizem que fui besta. Não! Fui eu mesmo que quis ir na capa daquele livro. Fui eu que quis acompanhar aqueles homens. Fui eu que quis ir fazer a nossa história. Vi ali todas as chances para a nossa eternidade. Vi ali toda a chance possível para que um dia vocês pudessem estar aqui junto com todos. Agora vocês estão juntos com todos eles e somos de fato uma carência de unidade. Vi vocês no futuro. Vi e me lancei. Me lancei dormente, do transe da força da decisão, da cegueira de lucidez, do coração explodido da grande paixão. Estive na margem de todas as margens, cheguei onde nunca antes nenhum de nós esteve. Não estive lá por acaso. Fui posto lá para nos trazer até aqui”.
Com isso, o professor Eduardo Sterzi conclui que Jaider Esbell compreendia que “figurações indígenas como aquela do ‘Macunaíma’, por mais que comportassem ‘apropriações’, prepararam o terreno para que os próprios indígenas aparecessem, agora, como agentes decisivos do panorama cultural contemporâneo”, conclusão esta que se alinha ao que Denilson Baniwa declara sobre o ciclo das coisas e a reantropofagia. O professor Sterzi continua: “E isso não só no Brasil. Basta ver a presença das obras do próprio Jaider Esbell na Bienal de Veneza atualmente em cartaz.” Para o professor, “’Macunaíma’ é uma das mais potentes figurações literárias, isto é, ficcionais, da singularidade do pensamento indígena”.
Para Alexandre Nodari, quando Jaider Esbell afirma que Makunaimî decidiu colocar seu nome na capa da obra de Mário de Andrade, “isso ressitua todo o debate sobre a autoria e a presença indígenas na obra, bem como o que é uma obra, o que é a literatura, quais as agências em jogo nela, quem fala e o que fala quando lemos, etc.”. Ele acredita que o que se coloca “para nós não-indígenas” é o que fazer diante dessa “resposta indígena que ressitua a questão em outros termos”. O professor acredita que “não se trata de tentar resolvê-la num passe de mágica, rejeitando em bloco Mário e Oswald de Andrade, num gesto não ausente de auto-penitência cristã, misto de culpa e mecanismo compensatório. Acredito que devamos, como diria Donna Haraway, ficar com o problema, ficar com a questão, que, depois da resposta indígena, já virou outra, e tentar entender os termos e as consequências dessa alteração de perspectiva, o que ela diz sobre nós, nossa arte e nossas relações ainda eivadas de colonialidade”.
Sterzi também identifica na obra de Mário e Oswald “um salto gigante para além da maioria das obras anteriores com temática indígena”, visto que levaram a sério a singularidade do pensamento ameríndio, “que se tratava de uma, digamos sem medo da palavra, filosofia”. Segundo o professor, este salto fica evidente sobretudo se suas obras são comparadas às obras românticas, “que transformavam muitas vezes os primeiros habitantes desta terra em avatares de heróis europeus”.
Sterzi cita como uma exceção anterior ao Modernismo o poema épico “O Guesa”, de Joaquim de Sousândrade, “com sua figuração protoantropofágica de um herói indígena dos Andes que perambula pelas Américas, chegando até Nova York, isto é, até o centro do capitalismo financeiro em consolidação”. Além disso, o pesquisador considera o poema “O trovador”, de Mário de Andrade, que se encerra com o verso “Sou um tupi tangendo um alaúde”, a referência mais consistente à temática indígena, na literatura, na época da Semana de Arte Moderna. Ainda em 1922 ele foi publicado em seu livro “Pauliceia desvairada”. O professor lembra que, apenas alguns anos depois, em 1928, o autor publicou “Macunaíma”. Também em 1928, foi publicado “Antropofagia”, de Oswald de Andrade (Manifesto antropófago, 1928), mesmo ano em que Tarsila do Amaral apresentou “Abaporu”.
Todos estes temas e figuras indígenas tornaram-se fundamentais para a definição do Modernismo brasileiro, afirma Sterzi, que menciona ainda a obra de Raul Bopp, “Cobra Norato”, de 1931. “Paralelamente, Vicente do Rego Monteiro publicou na França, em 1925, o álbum ‘Quelques visages de Paris’, uma ficção em que tanto os desenhos de lugares característicos da capital francesa quanto os poemas que os comentam são atribuídos a um chefe indígena deslocado da Amazônia para lá”, diz.
As referências indígenas também serão decisivas na obra musical de Villa-Lobos. “Mas temos de tomar cuidado na datação dessa presença, porque o compositor frequentemente alterava a posteriori as datas de suas obras, de modo a se conferir uma certa presciência (por exemplo, quanto à importância dos motivos indígenas) que, no entanto, é mais provável que venha do contato com os demais artistas que trabalharam antes com tais temas”, afirma Sterzi.
Debate político
São referências indígenas que introduzem os modernistas no debate da elite política e intelectual paulista da virada do século, afirma Alexandre Nodari. Na ocasião, a questão era sobre os Guaianás, indígenas que habitavam a região da capital na época da Conquista e que seriam os antepassados “eméritos”, por assim dizer, dessa elite, pontua o professor.
“As sociedades ameríndias não são, como no romantismo, situadas no passado, na origem já ultrapassada da Nação, mas tratadas no presente, como vivas e, além disso, como exemplos de futuro.”
Ele explica que a polêmica girava em torno de saber se os Guaianás eram povos tupis ou tapuias (não tupi), “o que tinha grandes implicações ideológicas e políticas, já que essa divisão (muito mais simbólica que real), construída nos tempos coloniais e fortalecida durante o indianismo romântico do Império, visava separar ‘bons’ selvagens (tupi) e ‘maus’ selvagens (tapuia), e o debate evidenciava que os Kaingang, que se opunham e resistiam à construção da estrada de ferro Noroeste, eram descendentes dos Guaianás (ou os próprios), o que dificultava justificar a sua eliminação, como defendido explicitamente por Ihering”.
Mas o Modernismo paulista se torna, de fato, uma questão política, quando, em 1929, aparece, “em contraponto à Antropofagia”, diz Nodari, o “Manifesto nheengaçu verde-amarelo”, do grupo modernista à direita que daria depois no Integralismo. “O manifesto reproduz a separação tupi-tapuia, e busca situar os índios tupis no passado, como tendo se ‘assimilado’ voluntariamente. Agora, tudo isso não se dá, sem sombra de dúvida, sem conflito e de maneira homogênea”, diz o professor.
Modernismo amazônico
Entre as obras citadas por Alexandre Nodari que mostram como os artistas modernistas se mobilizaram sobre a questão política dos tupi e tapuia, ele destaca o contato e o diálogo que Raul Bopp travou com índios, ribeirinhos, e intelectuais da Amazônia durante sua estada na região. “Se abrirmos o escopo para além do modernismo paulista, e formos analisar a presença, fontes e referências indígenas no modernismo amazônico, como tem feito Aldrin Figueiredo e Heraldo Galvão Jr. sobre o Pará, por exemplo, teríamos um quadro totalmente diferente deste cenário paulista”, explica o professor. A primeira diferença está na mobilização e positivação de informações, mitos e concepções de uma multiplicidade de povos indígenas. “Isso quebra o ‘tupicentrismo’ que dominou o indianismo romântico, devido ao binômio tupi-tapuia mencionado”, conclui.
Alexandre Nodari menciona, ainda, uma série de manifestações sobre questões indígenas contemporâneas (o protesto contra a catequização de povos ameríndios, a defesa do não-contato com povos que se isolaram, etc.) na Revista de Antropofagia. “As sociedades ameríndias não são, como no romantismo, situadas no passado, na origem já ultrapassada da Nação, mas tratadas no presente, como vivas e, além disso, como exemplos (mas não modelos) de futuro, ou ‘roteiros’, como diz o ‘Manifesto Antropófago’, que, ademais, colocam em questão a possibilidade de uma identidade única e fechada do país”, finaliza o professor.
Capa. Povos originários serviram de inspiração para os modernistas, mas ficaram “à margem” do modernismo
(“ReAntropofagia”, de Denilson Baniwa. Reprodução)
Leia mais
- A questão (indígena) do Manifesto Antropófago
- A metamorfologia de Macunaíma: notas iniciais
- A oca de Clóvis de Gusmão: sobre a página antropófaga na revista O Q A (O que há)



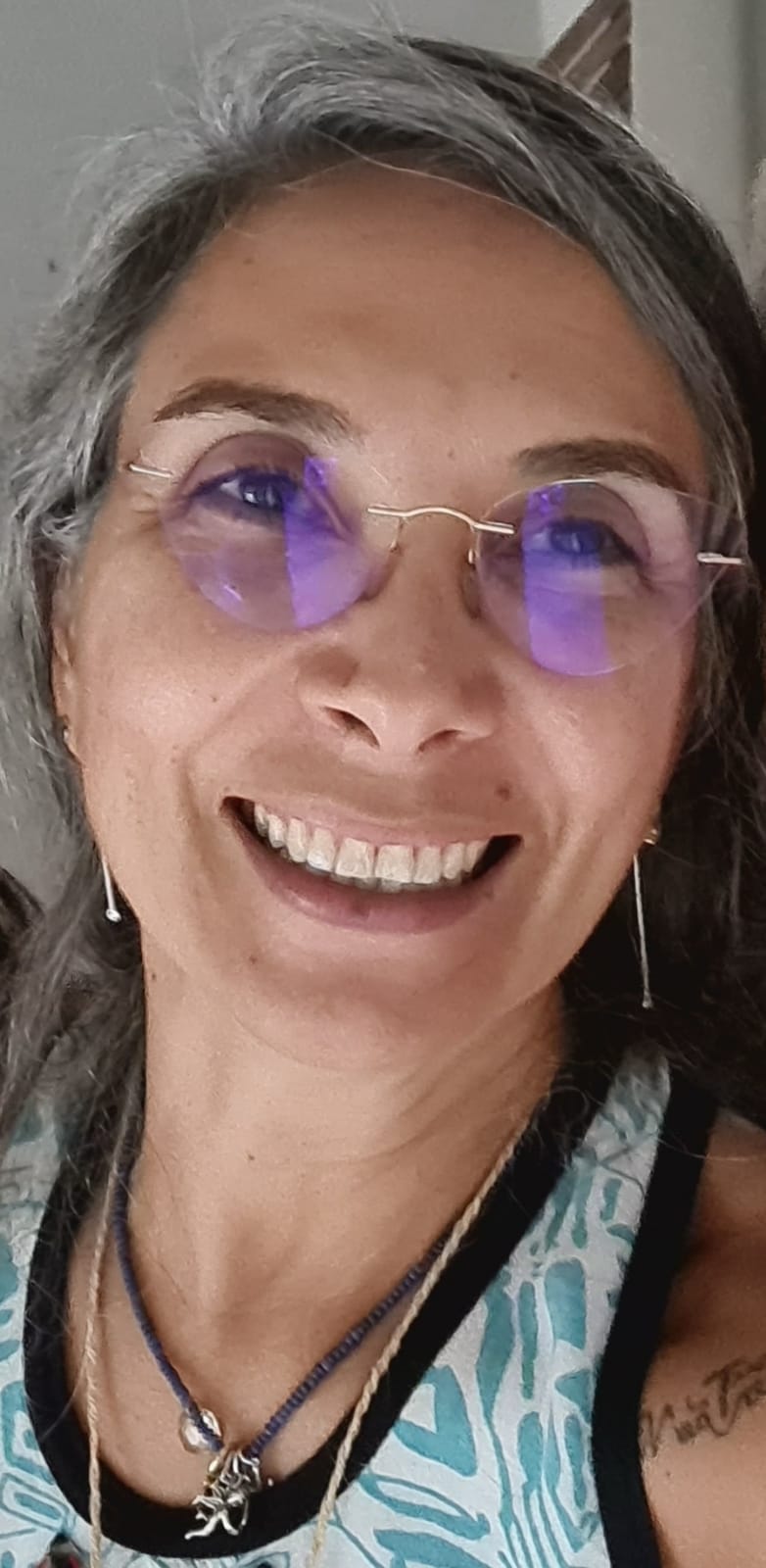






1 comment
whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.