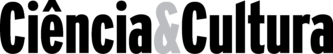Do movimento ao paradigma em um possível paradoxo
O papel das bibliotecas no mundo da ciência aberta é exaustivamente tratado na literatura nacional e internacional.[1,2] São textos que identificam toda sorte de ações que levaram à criação de produtos e serviços adequados ao contexto informacional diverso surgido nas últimas décadas com:
- O desenvolvimento da tecnologia para disponibilização eletrônica de publicações;
- O comprometimento com a concepção do conhecimento como bem público e, portanto, de livre acesso ao público.
Estes elementos identificam a origem do que convencionamos chamar de Movimento de Acesso Aberto à informação, mas que, como sabemos, compreendem aspectos mais amplos e profundos da ciência hoje.[3] O então Movimento desencadeia um debate e uma transformação que afetam a produção, o armazenamento, a disseminação e a avaliação das pesquisas científicas ao integrar práticas que favorecem a reprodutibilidade, a transparência, o compartilhamento e a colaboração na ciência (Figura 1). Ao promover tantas mudanças nos processos de comunicação científica, conquista, merecidamente, o status de Paradigma da Ciência Aberta.[1,4,5]

Figura 1. Elementos, valores, princípios e áreas de atuação da ciência aberta
(Fonte: UNESCO. Guia prático da Unesco para a ciência aberta: ficha informativa. 2024. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383323_por/PDF/383323por.pdf.multi>. Acesso em: 13 jan. 2025)
Até aqui, nenhuma novidade: a ciência aberta propõe uma revolução na forma de fazer ciência, e as bibliotecas têm contribuído enormemente para a promoção desta revolução. Menos óbvia, talvez, seja a compreensão das razões pelas quais as bibliotecas se envolveram com a ciência aberta, considerando que sua vocação (na origem e ao longo de sua milenar história) está intrinsecamente relacionada aos altos custos de acesso à informação impostos pela indústria editorial impressa.[6] O impacto social das bibliotecas sempre decorreu das condições sociais, políticas e econômicas que impunham escassez de acesso à informação.
O objetivo deste artigo é problematizar a medida em que a vocação histórica das bibliotecas se afirma, mas também se altera, resultando em ações de promoção da infraestrutura e da cultura da ciência aberta para acesso efetivamente público ao conhecimento na Era Digital. Para tal, propomos que a transição para o paradigma da ciência aberta na comunicação científica avança em duas rotas distintas: uma conservadora (pautada pela tradicional indústria editorial) e outra revolucionária (baseada em iniciativas colaborativas e descentralizadas). Ao fazermos isso, buscamos compreender o papel das bibliotecas no contexto das duas rotas, com ênfases que variam segundo a vocação mais conservadora ou revolucionária das próprias instituições.
Indústria editorial, prestígio e lucro
Todo conhecimento científico adquire valor pleno apenas quando tornado público, ou seja, publicado. Não se discute a importância do segredo científico ou de um saber individual não compartilhado. “Publicar ou perecer” é o famoso lema de difícil atribuição de autoria.[7]
O percurso de institucionalização da comunicação científica transcorreu em uma longa trajetória, que começou com o protagonismo de academias e sociedades científicas e se aprofundou com o surgimento de uma robusta indústria editorial.[8] Em tempos analógicos, a editoração e distribuição de publicações impressas demandavam infraestrutura e expertise onerosas. Esse cenário favoreceu o estabelecimento de um setor comercial privado, que se consolidou como uma atividade lucrativa e de elevado impacto econômico e político.[9] Esses custos eram majoritariamente financiados com recursos públicos, uma vez que o conhecimento é considerado um bem público comum, embora as razões da lucratividade do setor permaneçam em aberto para discussão.
“A ciência aberta propõe uma revolução na forma de fazer ciência, e as bibliotecas têm contribuído enormemente para a promoção desta revolução.”
Além de gerar capital científico e econômico, a indústria editorial científica também desempenha um papel central na construção de capital simbólico. Ao publicar um artigo em um periódico renomado ou um livro em uma editora prestigiada, o pesquisador alcança visibilidade e reconhecimento na comunidade acadêmica, mesmo que a compreensão plena de sua contribuição não seja imediata ou ampla.[10] Essa dinâmica de validação consolidou padrões de excelência científica frequentemente definidos pelas grandes editoras, moldando a percepção de qualidade na produção acadêmica.[11]
Com os avanços das tecnologias da informação, as técnicas eletrônicas de editoração, publicação e distribuição tiveram seus custos drasticamente reduzidos para os produtores da indústria editorial.[12] Contudo, esses benefícios não se refletiram diretamente nos valores cobrados nas assinaturas.[13]
Repositórios digitais, editores de países emergentes e custos
No início dos anos 1990, antes mesmo das editoras comerciais desenvolverem seu modelo de negócio de publicação eletrônica para periódicos científicos, a tecnologia já estava sendo utilizada pelos pesquisadores para simplificar a troca de manuscritos não publicados (pré-impressões, preprints) no Arxiv, marco que identifica os primórdios da ciência aberta.[14]
Nesta época, os repositórios digitais se desenvolveram como alternativa à distribuição pelo correio de cópias impressas de originais não publicados, com benefícios que ultrapassavam as vantagens de custo e tempo do serviço postal. Passaram a rivalizar com as próprias editoras comerciais. Isso acontecia porque além de publicar o manuscrito em acesso aberto, o repositório já integrava um sistema de publicação de comentários e de controle de versionamento, permitindo a verificação e validação de resultados com revisão aberta por pares em um processo contínuo de qualificação do manuscrito.
Nos países de economias emergentes, a tecnologia de publicação eletrônica passou também a ser utilizada pioneiramente para ampliar a capacidade de circulação de seus periódicos.[15] Neste contexto, a publicação científica nunca se constituiu como indústria. As publicações recebiam financiamento público, tinham baixo potencial de venda e alcançavam uma audiência restrita; dependiam, basicamente, de acordos de permuta de fascículos impressos estabelecidos em níveis regionais. Em 1997, por exemplo, o Projeto SciELO foi um precursor no desenvolvimento de um modelo de publicação eletrônica para ampliar a visibilidade dos periódicos brasileiros com uma estrutura criada para dar acesso aberto às publicações com financiamento público. Atualmente, o modelo é utilizado em 16 países.[16]
“Experiências de publicação eletrônica fora dos domínios antes monopolizados pela indústria editorial ampliaram significativamente o debate sobre os elementos fundamentais da comunicação científica.”
Essas experiências de publicação eletrônica fora dos domínios antes monopolizados pela indústria editorial ampliaram significativamente o debate sobre os elementos fundamentais da comunicação científica.
Sociedades científicas, academias, universidades, institutos de pesquisa e agências de fomento passaram a se articular para estabelecer parâmetros que priorizem a ampliação do impacto público da ciência, buscando maior independência em relação aos condicionamentos impostos pelos interesses comerciais do setor. Entre os documentos resultantes desta articulação, destacam-se a Declaração de Budapeste, a Iniciativa de Acesso Aberto de Berlim, a Declaração de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa, os mandatos das agências de fomento e o Plano S.
A contribuição das bibliotecas em duas rotas para a ciência aberta
Considerando esses aspectos anteriormente mencionados, pode-se dizer que a contribuição das bibliotecas para a consolidação do paradigma da ciência aberta na comunicação científica avança em duas rotas distintas: uma conservadora, pautada pela tradicional indústria editorial, e outra revolucionária, baseada em iniciativas colaborativas e descentralizadas.
Na rota conservadora, as bibliotecas colaboram diretamente com a indústria editorial tradicional, promovendo a transição para modelos de acesso aberto, mas preservando a centralidade das revistas científicas como mediadoras do conhecimento. (Figura 2). Sua atuação ocorre:

Figura 2. Exemplos de divulgação de produtos e serviços sobre acordo transformativos e APCs
(Fonte: Elaboração da autora. Referências: [1] UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. AGÊNCIA ABCD. Acordos transformativos Archives. Disponível em: <https://www.acessoaberto.usp.br/tag/acordos-transformativos/>. Acesso em: 15 jan. 2025.[2] UNIVERSIDADE DE CAMPINAS. SISTEMA DE BIBLIOTECAS. Acesso Aberto – Acordos Transformativos. Disponível em: <https://www.sbu.unicamp.br/sbu/acessoaberto-acordostransformativos/>. Acesso em: 15 jan. 2025. )
- Na gestão de recursos financeiros e administração de contratos para pagamento de taxas de processamento de artigos (APCs — Article Processing Charges), envolvendo a cobrança de autores para disponibilização em acesso aberto para leitores nos sites das editoras;[17]
- Na negociação de acordos transformativos com editoras para incluir as APCs nos custos de assinatura, permitindo acesso aberto imediato nos sites das editoras para publicações de determinados autores, dependendo de sua afiliação institucional;[18]
- Na organização de consórcios institucionais para contratações de APCs e acordos transformativos com ganhos de escala;
- No desenvolvimento e manutenção de repositórios institucionais para arquivamento de artigos publicados em revistas comerciais com permissão de acesso aberto [19] (conhecida como via verde: acesso fechado para não assinantes no site do editor, mas aberto para o público em repositórios);
- Na divulgação dos contratos firmados para financiamento das taxas de processamento de artigos, dos acordos transformativos e políticas de arquivamento dos editores em repositórios digitais.
Exemplos de contribuições fundamentais, mas que quase não alteram a dinâmica de produção do conhecimento científico realizada de forma centralizada nos agentes tradicionais da indústria editorial.[20] Contudo, a pergunta que fica é: para além dos custos, que seguem muito altos, existiria outra necessidade que motivaria a alteração da dinâmica? Afinal, usufruímos de toda sorte de avanços propiciados pelo desenvolvimento de conhecimentos científicos importantes em nosso cotidiano.
Para respondermos adequadamente a essa pergunta, precisamos inseri-la em um contexto social mais amplo. As bibliotecas são instituições milenares comprometidas com o acesso público ao conhecimento como recurso de avanço tecnológico, mas, sobretudo, com a promoção da cidadania. Uma missão centrada na relação entre sociedade e conhecimento que vive uma aterradora crise, brilhantemente sintetizada por Edgar Morin:[21]
Adquirimos conhecimentos espantosos sobre o mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. A ciência impõe cada vez mais os métodos de verificação empírica e lógica. As luzes da Razão parecem rejeitar nos antros do espírito mitos e trevas. E, no entanto, por toda a parte, o erro, a ignorância, a cegueira, progridem ao mesmo tempo que os nossos conhecimentos.
Exagero? Não. O movimento antivacina é um dos tantos exemplos bem próximos de nós sobre a relação “desenvolvimento científico e a ignorância”. Uma evidência que contraria as expectativas de que o desenvolvimento científico seria sinônimo de avanço civilizatório ao promover o ressurgimento de sérias doenças que haviam sido erradicadas.[22]
Essa é uma preocupação central para as bibliotecas que contribuem para a ciência aberta buscando seu desenvolvimento por uma rota revolucionária, empreendendo ações para a infraestrutura, mas, sobretudo para a cultura que visa a eficiência na produção de conhecimento, mas também sua democratização e acessibilidade.
Assim, respondendo à pergunta anterior: sim, a mudança do sistema tradicional da comunicação científica é necessária. Além da excelência acadêmica, a democratização e a acessibilidade ao conhecimento também precisam ser inseridas como um de seus problemas centrais. Evidência desta necessidade é a notória vulnerabilidade das populações aos processos de desinformação empreendidos com a lucrativa indústria de notícias falsas disseminadas nas redes sociais.[23]
Nesta ampliação de escopo, o número de artigos publicados por um pesquisador e o fator de impacto das revistas que o publicaram são respostas que deixam de ser suficientes para a compreensão da relevância da contribuição científica. Nesta perspectiva, as bibliotecas atuam para desenvolver produtos e serviços que sensibilizam e dão suporte às instituições e suas comunidades sobre a necessidade de que os produtos e os diálogos estabelecidos em torno do conhecimento científico precisam ser mais diversificados e amplos (Figura 3):[4]

Figura 3. Abrangência dos produtos e dos diálogos na ciência tradicional e aberta no contexto ciclo da informação
(Fonte: elaboração nossa. Adaptação de: UNESCO. Guia prático da Unesco para a ciência aberta: ficha informativa. 2024. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383323_por/PDF/383323por.pdf.multi>. Acesso em: 13 jan. 2025)
- Produtos: além das análises publicadas em artigos e livros, deve incluir preprints, dados, recursos educacionais, protocolos de pesquisa e códigos abertos, por exemplo.
- Impactos: além da citação na literatura científica, é necessário a descoberta, o acesso, a interoperabilidade e a reutilização (sigla FAIR em inglês) destes produtos por comunidades locais, acadêmicos marginalizados, povos indígenas, promovendo o desenvolvimento nos setores produtivo, educacional e cultural (não somente científico).[24]
Segundo revisão sistemática da literatura sobre o tema,[1] as contribuições das bibliotecas para a consolidação do paradigma da ciência aberta podem ser classificadas da seguinte maneira:
- Provedoras de serviços de ciência aberta com ações de:
- Construção e manutenção de repositórios institucionais de acesso aberto para fornecer serviços de autoarquivamento;
- Fornecimento de suporte informacional sobre recursos de acesso aberto;
- Suporte para tornar os dados FAIR e desenvolver coleções de conjuntos de dados;
- Digitalização de coleções históricas e disponibilização em acesso aberto;
- Recomendação e/ou fornecimento de opção de armazenamento de dados;
- Assistência no desenvolvimento de planos de gestão de dados;
- Assistência na atribuição de metadados a conjuntos de dados ou na criação de metadados para dados ou conjuntos de dados;
- Oferecimento de suporte para a busca de fontes de dados externas;
- Recomendação de ferramentas e recursos para gestão de dados;
- Prestação de serviços de análise e visualização de dados;
- Avaliação, coleta, preservação e manutenção do acesso a recursos;
- Curadoria e criação de recursos educacionais abertos.
- Defensoras da ciência aberta como ações de:
- Educação para a conscientização sobre o acesso aberto entre os pesquisadores e promover sua participação;
- Oferecimento de treinamento em gestão de dados de pesquisa ou instruções sobre literacia em dados;
- Treinamento para aprimorar habilidades de busca digital, reaproveitamento de recursos e conscientização e entendimento sobre licenças abertas;
- Desenvolvimento de habilidades para participar de projetos de ciência cidadã;
- Marketing para criar uma atitude positiva em relação à ciência cidadã;
- Divulgação de novas descobertas e apoio às comunicações científicas, acadêmicas e populares.
- Elaboradoras de políticas de ciência aberta com ações de:
- Participação no desenvolvimento de políticas de acesso aberto;
- Participação no desenvolvimento de políticas de gestão de dados de pesquisa;
- Contribuição com as políticas institucionais sobre a adoção e o desenvolvimento de recursos educacionais abertos;
- Adoção de ferramentas para desenvolvimento de projetos de ciência cidadã.
- Editoras e produtoras de conhecimento com ações de apoio à publicação eletrônica de periódicos e livros de acesso aberto: iniciativa particularmente importante nos países de economias emergentes que, ao publicarem seus próprios periódicos de forma independente da indústria editorial, promovem o desenvolvimento de competências entre os pesquisadores (para comunicar resultados de pesquisa) e os editores (para desenvolver políticas editoriais adequadas aos desafios da contribuição fora do circuito da corrente principal da ciência).[25]
Pró ou contra as bibliotecas na ciência aberta
Para finalizar este artigo, fazemos uma provocação inspirada no ensaio de Elsa Morante “Pró ou contra a bomba atômica” no qual a autora sentenciou: “a humanidade contemporânea experimenta a tentação oculta de se desintegrar”.[26] Se o “ou” para Morante soa como um disparate relacionado ao “pró bomba-atômica”, o “contra as bibliotecas na ciência aberta” é utilizado aqui para causar igual efeito: revelar uma tentação oculta das bibliotecas brasileiras para se desintegrar.
Isso ocorre porque algumas instituições têm atuado intensamente para promover o acesso aberto no Brasil pelo desenvolvimento e manutenção de repositórios institucionais com uma centralização da produção de metadados nas bibliotecas. Sua política restringe o autoarquivamento pelas próprias comunidades; ao fazê-lo, acabam, inadvertidamente, limitando o potencial da Ciência Aberta.
“As bibliotecas são instituições milenares comprometidas com o acesso público ao conhecimento como recurso de avanço tecnológico, mas, sobretudo, com a promoção da cidadania.”
A essência da ciência aberta é a descentralização e a colaboração. A centralização nas bibliotecas é tão restritiva quanto o modelo tradicional estabelecido pela indústria editorial. A colaboração entre bibliotecas e pesquisadores é, por sua vez, indispensável: ações de treinamento, disseminação e curadoria realizadas pelos “bibliotecários de dados” são uma parte central da dinâmica da ciência aberta; atuação profissional cuja principal atribuição é contribuir para a descoberta, o acesso, a interoperabilidade e a reutilização do conhecimento produzido por sua comunidade de atuação.
Manifestamos, por fim, nossa convicção sobre a importância da contribuição das bibliotecas para a ciência aberta em um processo de ressignificação histórica de seu papel social pautado, antes, na escassez, agora, na super circulação de informações. Função que se realiza com práticas alinhadas à filosofia de capacitar e integrar pesquisadores, em vez de centralizar processos de maneira restritiva; práticas essas comprometidas com o acesso público ao conhecimento como recurso de avanço tecnológico, mas, sobretudo, com a promoção da cidadania.