Repensar as narrativas históricas de um país não é apenas uma demanda dos movimentos sociais de hoje. Aqui no Brasil, enquanto o ano 2000 era marcado por uma série de ações em comemoração aos 500 anos do descobrimento, a filósofa Marilena Chauí já defendia que não havia nada a festejar, pois, se do lado dos portugueses existia uma narrativa de progresso, para os indígenas o período foi um genocídio. Rumo ao bicentenário da independência, nos deparamos com o mesmo questionamento: temos o que comemorar?
Se olharmos do ponto de vista dos grupos considerados minoritários, essa é uma pergunta difícil de responder. Segundo o Atlas da Violência 2021, a chance de uma pessoa negra ser assassinada no país é 2,6 vezes superior ao de uma pessoa não negra. O mesmo relatório aponta que os homicídios de indígenas cresceram mais de 20% em dez anos. Ainda, o estudo “Violência armada e racismo: o papel da arma de fogo na desigualdade racial”, do Instituto Sou da Paz, mostra que dos 30 mil assassinatos por agressão armada em 2019, 78% foram contra pessoas negras. Já o Relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, publicado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), apontou que as invasões possessórias, a exploração ilegal de recursos e os danos ao patrimônio também aumentaram: foram 263 casos registrados em 2020. Levantamento do Datafolha encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência no último ano no Brasil. Por fim, o 15.º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), mostrou um aumento de 24,7% nos homicídios contra a população LGBTI no período de 2020 comparado a 2019.
Esses números retratam uma assombrosa desigualdade que se mantém no Brasil, revelando uma herança histórica de injustiça social que exclui parte significativa da população do acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania. “Apesar dos processos de independência dos países latino-americanos, como o Brasil, e da consequente transição do status de colônias para o status de Estados independentes, não podemos dizer que a colonização se encerrou num passado. Mais do que falar em consequências ou em legados do colonialismo, é preciso afirmar que o pacto colonial segue sendo reencenado e atualizado”, explica Isaac Porto, mestre em Direito pela PUC-RJ e consultor LGBTI do Instituto sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos (Race and Equality). “Isso é perceptível nos processos de dependência econômica que regem o mundo, mas não só. Olhar para a realidade da população negra, dos povos originários, e a forma desumana e desumanizante com que o Estado lida com essas populações, escancara o quanto a humanidade do povo preto ainda é expropriada em benefícios da hegemonia política, social, econômica e cultural branca”, complementa.
Uma questão de identidade
O fato é que o projeto da Independência do Brasil colocou uma questão muito importante no novo cenário: a definição de uma “identidade nacional”. Afinal, nascia uma nação que buscava, entre outras demandas, manter seu território unido. A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838 foi o primeiro passo na tentativa estatal de refletir sobre temas relacionados à nação brasileira. A Literatura, anos depois, contribuiria para a construção dessa identidade, aliando a imagem da nação brasileira às suas belezas naturais, como também a mitificação do indígena como componente essencial da nação brasileira. Desta forma, a natureza e a gente brasileira são os elementos determinados para definir a identidade nacional. Em relação à sua gente, Brasil possuía uma situação única no mundo: a miscigenação entre brancos, negros e índios.
No entanto, é bom ressaltar que, após a constituição do Império, o sentimento de nacionalidade ainda era bastante insípido e a ideia de identidade nacional praticamente não existia. A situação começou a mudar a partir de conflitos externos contra inimigos estrangeiros, que fizeram emergir os sentimentos de patriotismo e civismo. A consolidação veio após a Guerra do Paraguai (1864-1870): com a vitória brasileira, reforçando símbolos que marcariam esse nacionalismo, como a bandeira e o hino nacional.
Apesar de negros e indígenas serem considerados parte fundamental da construção da identidade nacional, eles mesmos permaneciam sem identidade. No caso dos negros, a Abolição da Escravatura só aconteceu 66 anos após a Proclamação da Independência do Brasil. Embora tenham conquistado a liberdade, eles não conquistaram direitos: continuaram marginalizados na sociedade e relegados a subempregos ou mesmo a semiescravidão. Foi a Constituição de 1988, aprovada 100 anos depois, que trouxe conquistas significativas para a população negra, como o direito à terra dos quilombolas e a criminalização do racismo. A mesma Constituição também garantiu o direito dos indígenas, passando a considerar o Estado o responsável por adotar políticas públicas para preservar as formas de organização social, línguas e costumes dos grupos tradicionais. Antes, esses grupos eram considerados representantes de uma cultura inferior que deveriam ser tutelados pelo Estado, e tiveram seus direitos ignorados ou negados até então.
No caso das mulheres, elas constituíam um grande e silencioso grupo, que ficou de fora de todas as Constituições e leis brasileiras até 1932, quando finalmente conquistam o direito ao voto. Isso deu forças para que passassem a lutar por mais direitos, e fez com que, em 1979, o Brasil assinasse o tratado internacional da Organização das Nações Unidas (ONU), a “Convenção Sobre a Eliminação e Todas as Formas de Discriminação Contra As Mulheres”. Já sobre a população LGBTI, as discussões são bem mais recentes. Apesar de todos os avanços, ainda há um longo caminho pela frente quando se trata dos direitos para esses grupos.
Povos tradicionais – desafios não tradicionais
“A gente é tão independente juridicamente, mas não tanto na prática. Porque o universo que colonizou segue nos colonizando de outras formas. Por exemplo, no debate sobre povos indígenas e questões LGBTI. Quem levanta esse tema normalmente são os jovens [indígenas]. Acredito que foi só em 2018 a primeira vez que essa pauta entrou na Assembleia Nacional dos Estudantes Indígenas, que é um evento importante do movimento”, reflete Renan Reis, mestre em antropologia e sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
“O universo que colonizou segue colonizando de outras formas, por exemplo, no debate sobre povos indígenas e questões LGBTI.”
Para o antropólogo, este é um exemplo de como a colonização está enraizada nas culturas. “Eu penso que refletir sobre a Independência é reconhecer essas coisas primeiro, esses processos históricos muito pouco conhecidos. A colonização ao nível da antropologia, do pensamento, dos conceitos filosóficos, muito presente no povo com que eu trabalho hoje”.
Evitar ser quem é para conseguir viver não é uma novidade para Gabrielle Weber, professora da Escola de Engenharia de Lorena (EEL), uma instituição da USP. Marcada já na infância por não se identificar com o gênero que lhe atribuíam, só pode se afirmar como mulher trans após ter os diplomas acadêmicos e um emprego na mesma academia. “A idade média em que uma travesti é expulsa de casa é de 13 anos, essa é a raiz do problema. Porque se você é expulsa de casa com 13 anos, o que vai fazer? Você não vai para a escola porque a escola não vai te dar o que comer, não vai te dar um teto. Você vai recorrer a formas de sobrevivência, você vai acabar na prostituição. E eu percebi que eu era trans quando tinha 10 anos, só que a minha ficha caiu exatamente com uma reportagem falando sobre violência. Então, eu sabia que não era uma opção para mim. Óbvio, com o tanto de consciência que uma criança de 10 anos consegue formular, mas eu já tinha medo de ser expulsa de casa. De uma forma bem inconsciente no começo, e que foi ficando mais consciente depois, eu tracei a minha carreira de forma a ter uma posição de privilégio, de segurança, para então depois eu poder ser eu mesma”, conta.
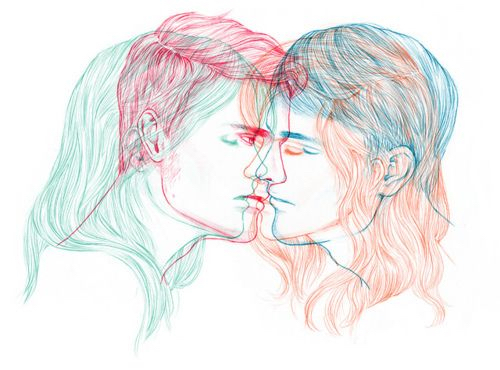
Figura 1. O Brasil é um dos países mais violentos contra a população LGBTI
(“Kiss”, de Murillo Chibana. Reprodução)
A preocupação de Weber tem justificativa. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), só em 2020 o Brasil bateu o recorde de assassinatos contra travestis e mulheres trans, com um total de 175 mortes. Já no primeiro semestre de 2021, foram 80 assassinatos, 33 tentativas de assassinato e outras 27 violações de direitos humanos. “Uma coisa que é muito importante ressaltar é que esses dados não são reais, eles são minorantes. As organizações que fazem esses levantamentos não trabalham com dados absolutos, elas trabalham muitas vezes com recortes de jornal, com algumas notícias mal passadas, no sentido de que tem muito ruído”, alerta a pesquisadora.
Em abril de 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou oficialmente o cancelamento do Censo 2020. Desde 2014, diversas iniciativas vêm solicitando a inclusão de perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no Censo, de modo a conseguir mapear a população LGBTI do país. Iniciativas ignoradas ou até recusadas por órgãos federais. A ação mais recente é o projeto de lei no. 420/2021, de autoria do senador Fabiano Contarato (REDE/ES), que segue parado no plenário do Senado Federal desde fevereiro. Antes da PL, em agosto de 2020, a ong Aliança Nacional LGBTI+ encaminhou um ofício ao próprio IBGE pedindo a inclusão deste mapeamento social no Censo. O Instituto respondeu negando o pedido, alegando que é um tipo de monitoramento não recomendado tanto do ponto de vista técnico quanto operacional, e que a investigação de tais questões é algo sensível.
“Se você monitora, você está abrindo o problema. Olhando do ponto de vista mais acadêmico, toda vez que você quiser levantar algum problema, você precisa de indicadores. Estou envolvida em um levantamento da população realizado pela Academia LGBTQIA+ Brasileira. Para saber quem a gente é, onde a gente está, e assim poder falar que o problema existe. Porque sem números, parece que o problema não existe”, denuncia a especialista.
Dando visibilidade para o invisível
Em 2020, o Instituto sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos publicou um dossiê para denunciar a situação de vulnerabilidade da população negra e LGBTI no país (Qual é a cor do invisível? A situação de direitos humanos da população LGBTI negra no Brasil). Entre as possíveis soluções para resolver o cenário de desigualdade, a entidade recomendou a interseccionalidade de pautas entre os movimentos identitários, ou seja, que os movimentos distintos que ainda lutam pelo direito à vida se unissem por pautas em comum.
Isaac Porto, um dos autores do dossiê, contou os pilares desta visão: “Não se trata apenas de reconhecer sofrimentos e dores, mas de colocar esses grupos que escapam à branquitude cis-heteronormativa no centro da ação e da atenção política, rompendo com um histórico de invisibilizações de nossas urgências. Significa, assim, ter como prioridade máxima a luta pela vida, sem esquecer quais são os grupos que precisam, diariamente, colocar seus corpos na linha de frente por essa luta”.
Para Porto, a luta por direitos segue em dificuldade no país, mas não se deve olhar apenas na perspectiva dos obstáculos. “Nós tivemos avanços importantes ao longo dos últimos anos, como a política de cotas ou a garantia da retificação de nome e gênero de pessoas transexuais, dentre outros, que são fruto da luta histórica dos movimentos sociais — e isso não pode ser deixado de lado. Embora ainda haja muitos problemas e estejamos em uma onda de retrocessos, os movimentos negros, os movimentos indígenas e LGBTI+ têm ecoado grandes vozes de resistência na luta pela vida”.
“Que Independência foi essa? Para quem? O que mudou por causa disso? E o que a gente pode fazer a partir daí?”
E sobre a Independência do Brasil, devemos comemorar? Weber afirma que sim, mas com a devida contextualização do período, e com destaque a outras épocas importantes da história do país. “A gente tem que olhar para datas mais relevantes para as identidades, como o Dia da Consciência Negra, que é um crime não ser feriado nacional. Mas eu não penso que a independência tem que ser esquecida. Porque sim, foi uma data importante, mas ela tem que ser colocada no lugar dela. O que a independência significou? Significou o rompimento das relações de vassalagem entre Brasil e Portugal, basicamente. A minha relação com o Dia da Independência é: tem que continuar existindo, e com festividades, mas festividades entre muitas aspas, para discussões. Que Independência foi essa? Para quem foi? O que mudou no Brasil por causa disso? E o que a gente pode fazer a partir daí?”, conclui.









