Confira entrevista com Suzane de Alencar Vieira, professora do programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás
Com um olhar aguçado para as complexas interações entre humanos e outras espécies, Suzane de Alencar Vieira dedica-se às etnografias multiespécies e à análise das controvérsias tecnocientíficas. Professora do programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás (UFG) e coordenadora do núcleo de pesquisa Coletivo de Antropologia das Resistências e Ontologias Ambientais (CAROÁ), sua trajetória acadêmica é marcada por um compromisso com a justiça social e ambiental, como evidenciado por suas investigações sobre os conflitos ambientais e o movimento ambiental antinuclear, particularmente no contexto das comunidades camponesas e quilombolas de Caetité, na Bahia. “A antropologia mantém uma janela aberta para outro mundo possível, para outras maneiras de viver em sociedade”, pontua. Autora de vários livros e artigos, Suzane Vieira publicou as obras “Césio-137, drama azul: irradiação em narrativas” (editora Cânone), em 2014, na qual disseca o trágico acidente radiológico com o Césio-137 ocorrido em Goiânia em 1987, e “Entre risos e Perigos: artes da resistência e ecologia quilombola no Alto Sertão da Bahia” (7letras), no ano passado, sobre a resistência do Quilombo de Malhada à implementação de parque eólico. Desta forma, a pesquisadora dá voz e resistência às comunidades afetadas por tais desastres. “Estamos atentas aos movimentos de resistências que deslocam a demarcação entre sociedade e meio ambiente/natureza e traçam alinhamentos sociais, políticos, éticos e ecológicos”, afirma. Como mãe, pesquisadora e professora, Suzane equilibra suas múltiplas facetas, trazendo uma perspectiva única e sensível às suas investigações. “As mulheres na ciência e, entre elas, as mães, vêm corporificando e localizando as práticas de conhecimento científico, expondo desigualdades de gênero e de raça nas condições de produção de conhecimento e em vários níveis ou momentos da carreira de pesquisador/a: da pesquisa de iniciação científica até as bolsas de produtividade”, conclui.
Confira a entrevista completa!
Ciência & Cultura – Coordenando o núcleo de pesquisa CAROÁ, que se dedica à Antropologia das Resistências e Ontologias Ambientais, quais são os principais objetivos do coletivo e como ele contribui para a compreensão das relações entre sociedade, meio ambiente e resistências locais?
Suzane de Alencar Vieira – O núcleo de pesquisa CAROÁ busca criar um posicionamento ético-político e acadêmico no âmbito da antropologia diante de discussões mais recentes sobre crise ecológica e mudanças climáticas. Ele nasce em 2019 da intenção de duas antropólogas, eu e Indira Caballero, que coordena comigo o núcleo, de reativar a etnografia como mediadora de éticas ecológicas e conhecimentos tradicionais ambientais para liberar outras linhas de criação acadêmica, política e ecológica diante da crise climática. Essa caminhada teórico-metodológica envolve também uma rede de antropólogas/os de diferentes instituições do Brasil, do México, do Peru e da Colômbia. O CAROÁ organiza em uma proposta esse desejo coletivo de uma antropologia que se engaje com outras formas de compor com mundos humanos e mais-que-humanos sem se desvincular das lutas prementes de resistência dos povos tradicionais. Estamos atentas aos movimentos de resistências que deslocam a demarcação entre sociedade e meio ambiente/natureza e traçam alinhamentos sociais, políticos, éticos e ecológicos que divergem da ontologia da natureza unívoca, da biontologia ocidental, da fantasia capitalística de um mundo totalmente disponível como recurso natural. Visamos criar abordagens etnográficas mais permeáveis aos efeitos de conhecimentos tradicionais ambientais e a alianças com povos indígenas, quilombolas e camponeses que resistem histórica e continuamente as catástrofes e projetos de desenvolvimento.
“O que chamamos como ‘conhecimentos tradicionais ambientais’, por falta de uma palavra melhor, aponta para o futuro, para a renovação ética das relações com o meio ambiente de que precisamos para enfrentar a catástrofe climática por vir.”
C&C – Sua pesquisa inclui a antropologia das populações afro-brasileiras. Como essas abordagens contribuem para ampliar a compreensão das dinâmicas culturais e sociais presentes nessas comunidades?
SAV – Há cerca de 13 anos acompanho as lutas de resistência das comunidades rurais quilombolas no município de Caetité, no Alto Sertão da Bahia, uma região do semiárido e afetada pelas consequências da extração mineral, por períodos prolongados de seca e por uma intensa crise hídrica. Esse tempo corresponde à duração de uma relação de conhecimento, de aprendizagem, de confiança, aliança e amizade que começou com a pesquisa de campo em 2011 e se estende, se diversifica e se transforma até hoje. Tudo isso não cabe na designação de “pesquisa antropológica de longa duração”. Passamos uma boa parte das nossas vidas envolvidas nessa relação para aprender com agricultores e agricultoras indígenas e quilombolas e buscar transmitir a intensidade desse conhecimento e seus efeitos éticos, políticos e epistemológicos sobre nossas formas de pensar o meio ambiente e a emergência ecológica hoje. Ao longo desses anos, por exemplo, minhas amigas e meus amigos do Quilombo de Malhada me ensinaram sobre a prática delicada e atenta da agricultura que passa por circuitos de cuidado e atenção multiespécie nos quais as ações humanas não são as únicas ações “produtivas”. Todo um arranjo multiespécie age, coopera, coproduz a roça de milho e de mandioca. Há muito mais a se considerar na agricultura como, por exemplo, a análise da força, a vontade ou a natureza da planta, os sinais de chuva, da terra, dos ventos, do astro do tempo, da lua, sinais dos pássaros, os afetos das pessoas, rastros dos animais do mato, etc. Plantar, por exemplo, aparece como uma ação de composição com arranjos vivos complexos. O que se apreende como dinâmicas culturais ou sociais se apresenta aqui em outro arranjo de seres que desloca o pressuposto antropocêntrico de uma relação hierárquica entre humanos e não humanos, relações sociais e relações multiespécies. Minha pesquisa visa fazer com que toda essa complexidade seja reconhecida como conhecimentos e tecnologias ambientais quilombolas e seja valorizada essa singularidade no modo de lidar com o meio ambiente que é muito mais sustentável do que as formas extrativistas da mineração de urânio e de ferro e dos parques eólicos ao redor dessas comunidades. Essa poderia ser talvez uma pequena contribuição ou um apelo para que essa outra ética ecológica possa contar para uma gestão não extrativista do destino comum, para a construção da justiça social, racial e ambiental nos planos de desenvolvimento do sertão da Bahia e do país.
C&C – No contexto da ecologia política, como suas pesquisas abordam as questões ambientais contemporâneas e os desafios enfrentados pelas comunidades locais, especialmente no Brasil?
SAV – Além de abordar os perigos dos impactos ambientais de projetos de extração energética e mineral que espreitam as comunidades, ressaltei a força e a riqueza de seu modo de viver. Suas ações cotidianas de resistência rompem com consenso político e acadêmico em torno das noções de “natureza”, “riqueza”, “produção”, “criação”, “proteção” ecológica. Esse modo de recriar localmente as possibilidades de viver e resistir exige de nós uma renovação da linguagem conceitual da ecologia política. Estamos lidando com cenários de destruição ambiental e também com saberes e éticas ecológicas dissidentes continuamente sufocados e desqualificados por práticas de desenvolvimento e práticas de conhecimento. Precisamos de uma abordagem que enfrente também as hierarquias de conhecimento. Acredito que, no Brasil, uma questão crucial para a ecologia política é pensar a relação extrativista com o meio ambiente, presente tanto nas políticas de desenvolvimento quanto nas políticas de conhecimento. Há um pacto político, epistemológico e ontológico que subsidia essas relações extrativistas. Quem tem o poder de definir que as rochas subterrâneas são formações minerais não vivas ou inertes disponíveis como recurso natural também colabora para autorizar relações extrativistas com o meio ambiente. Precisamos de nos atentar a outras formas de descrever mundos vivos e às objeções políticas e epistemológicas dos povos tradicionais ao capitalismo extrativista. Que políticas de conhecimentos extrativistas precisamos deslocar para que os encantados, por exemplo, sejam levados a sério como objeções ecológicas às práticas de extração e apropriação de rios, lagos e serras? O que chamamos como “conhecimentos tradicionais ambientais”, por falta de uma palavra melhor, aponta para o futuro, para a renovação ética das relações com o meio ambiente de que precisamos para enfrentar a catástrofe climática por vir.
“As políticas de inclusão na universidade provocam um abalo nas estruturas coloniais, raciais e patriarcais do conhecimento.”
C&C – A diversidade é crucial para o avanço da ciência. Como a inclusão de diferentes perspectivas, incluindo a presença de mulheres, afeta a qualidade e amplitude das pesquisas?
SAV – As políticas de inclusão na universidade provocam um abalo nas estruturas coloniais, raciais e patriarcais do conhecimento. Especialmente, no plano da produção acadêmica e da pesquisa científica que é estruturante de desigualdades sociais, culturais e políticas. É um acontecimento na história das universidades que não foram feitas para a diversidade, para mulheres, negros, indígenas, trans, pessoas com deficiência. Esse encontro com as diferenças é muito potente e também expõe contradições, violências, sujeições desse ambiente acadêmico universitário. Os efeitos dessa transformação podem ressoar também, a meu ver, na diversificação de agendas de pesquisas, em novos controles éticos, novas formas de envolvimento com demandas de grupos minoritários e com questões decisivas da vida social como a justiça social, racial e ambiental. Concordo com você que esse é um ganho de qualidade e de amplitude das pesquisas. As mulheres na ciência e, entre elas, as mães vêm corporificando e localizando as práticas de conhecimento científico, expondo desigualdades de gênero e de raça nas condições de produção de conhecimento e em vários níveis ou momentos da carreira de pesquisador/a: da pesquisa de iniciação científica até as bolsas de produtividade. É um movimento importante que faz desacelerar a corrida do produtivismo acadêmico, essa economia de conhecimento que beneficiou, ao longo de séculos, os homens brancos e, principalmente faz importarem também as relações que estruturam a prática da produção científica.
C&C – Como mulher na ciência, você poderia compartilhar suas experiências e desafios no campo da antropologia, e como vê o papel das mulheres nesse campo de estudo?
SAV – Penso que o papel das mulheres nesse processo de transformação da universidade e das políticas de conhecimento é aquele enunciado pelas filósofas Isabelle Stengers e Vinciane Despret como “criadoras de caso”, aquelas que rompem com consensos estabelecidos e maiorias morais universitárias e enunciam objeções aos modos atuais de produzir conhecimento. Precisamos continuar “criando caso” para fazer importar outras coisas relevantes como, por exemplo, a experiência da maternagem. Isso muda radicalmente nosso posicionamento no mundo acadêmico. No caso da antropologia, fazer pesquisa de campo com um filho pequeno é bem desafiador. Muitas de nós interrompemos por muitos anos a pesquisa de campo ou mudamos de tema. A maternagem nos atinge no coração da produção de conhecimento e isso precisa ser problematizado na antropologia. Nós mães nunca estamos sozinhas. É como se tivéssemos uma buzina ligada quase 24h por dia e não podemos agir como se nada estivesse acontecendo. Preparo aulas, arguições, orientações, coordeno o programa de pós-graduação em antropologia social, escrevo, inclusive, essas linhas aqui na companhia do meu filho de quatro anos. E cada linha escrita de um e-mail ou de um artigo é entrecortada por várias interrupções, chamados, demandas de cuidados. O projeto do CAROÁ foi originalmente escrito enquanto o amamentava. Não é possível, para nós, separarmos esses momentos de produção de gente e de palavras, criação de pessoas e de conhecimento. É outra condição de trabalho que é extremamente cansativa. É preciso “criar caso” mesmo não só para visibilizar essas dificuldades, mas também para transformar as relações, experimentar formações mais coletivas para a produção científica, pensar em redes de apoio e colaboração institucionais para todas essas tarefas produtivas. Além dessa experiência da maternidade, também trago a experiência de atuar em uma universidade periférica onde pesam mais sobre nós docentes as funções administrativas e as exigências de eficiência e de controle dos mecanismos de avaliação da pós-graduação para manter a notinha suada do programa. Pesquisar por aqui não é uma atividade corriqueira, é uma prática de resistência a essas pressões e esses encargos. E, ao mesmo tempo, em que estamos na periferia das políticas de conhecimento universitário, nós docentes de universidades não hegemônicas estamos no meio do cerrado, da caatinga, da floresta onde se desenrola o drama do desenvolvimento do país. As universidades da região Sudeste foram historicamente autorizadas a falar dos projetos de nação e a pensar as questões políticas do momento, como, por exemplo, a crise climática global. Acredito que resistimos também quando buscamos mudar um pouco isso, quando conectamos esse debate com as lutas de resistência locais e buscamos alinhamentos acadêmicos e universitários não hegemônicos. Considero um sério problema de democracia quando a discussão sobre mudança climática é monopolizada pelas ciências da natureza, por pesquisadores homens brancos euramericanos e, no Brasil, por pesquisadores do Sudeste. Se queremos uma renovação ética e ecológica para enfrentar a crise climática, precisamos inverter também todos esses vetores colonialistas.
“Considero um sério problema de democracia quando a discussão sobre mudança climática é monopolizada pelas ciências da natureza, por pesquisadores homens brancos euramericanos e, no Brasil, por pesquisadores do Sudeste.”
C&C – Como suas pesquisas e o trabalho no CAROÁ se relacionam com as comunidades locais, e de que maneira você busca impactar positivamente essas comunidades por meio do conhecimento gerado pela pesquisa?
SAV – Venho pensando sobre o lugar da antropologia na discussão sobre as crises climática e ecológica e meu caminho por essas questões se faz pela via da etnografia e de tudo o que aprendi com Teresa, Joaquim, Odetina, Maria de Bezim, Silvano e tantos outros sábios quilombolas da comunidade de Malhada. Minha sensação é que devo muito mais a elas e a eles por descortinarem para mim novas perspectivas de problematização de questões ambientais, políticas e sociais. Mas o livro que escrevi e foi publicado no ano passado “Entre risos e Perigos: artes da resistência e ecologia quilombola no Alto Sertão da Bahia” (7letras, 2023) vem produzindo alguns efeitos locais importantes. A história de resistência do Quilombo de Malhada à implementação de parque eólico ficou conhecida, inclusive, Teresa e Joaquim hoje são convidados para ministrar formação a outras comunidades também sob o escopo desse tipo de empreendimento que pinta para si uma imagem pretensamente benevolente e sustentável. O livro atua localmente na organização da história e do legado ecológico das comunidades, da complexidade de suas práticas e pensamentos ecológicos. O livro pode ser tornar um aliado da proteção do território tradicional quilombola no cenário preocupante em que o processo de titulação do território da comunidade de Malhada desapareceu das dependências e dos sistemas do órgão estadual responsável pela titulação justamente no momento em que os projetos de parques eólicos e de exploração mineral se expandem na região também conhecida como Sertão Produtivo.
C&C – No cenário atual, com crescentes preocupações ambientais, como você vê o papel da antropologia na construção de diálogos entre diferentes saberes, incluindo os conhecimentos tradicionais e científicos?
SAV – Penso que a antropologia pode ser uma via para encontrar um novo caminho narrativo para a crise climática que descreva as violências coloniais, raciais, assim como as alterações ecológicas e catástrofes climáticas do modo como são reconhecidas e problematizadas pelas comunidades tradicionais. A antropologia mantém uma janela aberta para outro mundo possível, para outras maneiras de viver em sociedade, para mudanças políticas e epistemológicas na gestão do destino comum. Nesse sentido, a antropologia pode se oferecer como um meio ou mediação para provocar uma perturbação na nossa sensibilidade ecológica, transmitindo as intensidades desses conhecimentos tradicionais ambientais. Acredito que a antropologia pode atuar para visibilizar e problematizar hierarquias e desigualdades sociais, raciais, econômicas e políticas, e também a hierarquia de saberes ordenada pelas ciências modernas que impede o pleno reconhecimento de práticas de conhecimentos e pensamento éticos ecológicos dos povos tradicionais e outros coletivos que vivenciam, no seu dia a dia e em seus territórios, a destruição e a violência dos projetos de desenvolvimento.
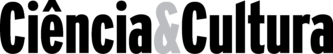





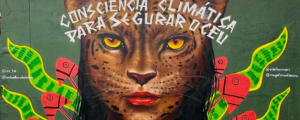



4 comments
Excelente entrevista. Suzane vem se destacando no cenário nacional, por seu trabalho sério. Traz a luz questões de grande relevância para apoio e sustenção de grupo minoritários, que resistem, em meio a tanta ganância e desejo intenso de exploração.
Parabéns a Revista pela escolha dessa grande profissional. Guerreira
Excelente entrevista! Escolha perfeita. Suzane vem se destacando no cenário nacional no que se refere ao estudo de grupos minoritários. Seus estudos servem de sustentação , apoio e fortalecimento das lutas contra a ganância de exploração e destruição de biomas Parabéns
Entrevista maravilhosa, como sempre. É um grande orgulho ter a orientação da professora Suzane durante meu processo de formação como antropóloga.