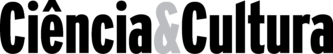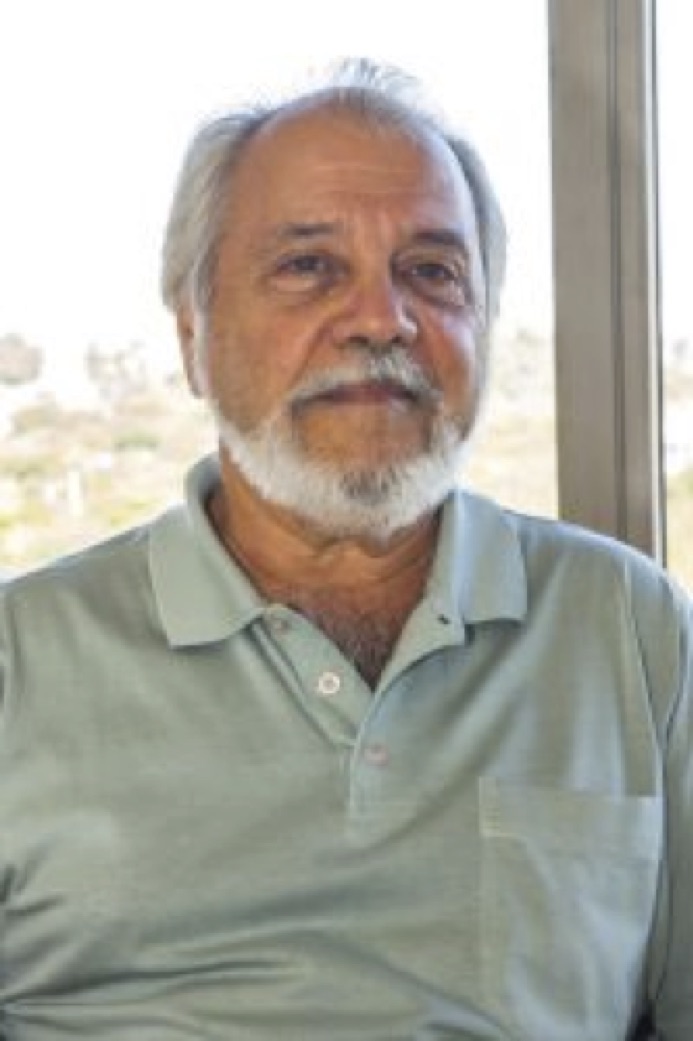Introdução
Ao final do século XIX e início do século XX a Química se apoiava em três conceitos fundamentais: (a) fórmula química, que define a composição elementar da substância química; (b) estrutura molecular, que define o arranjo espacial dos átomos da molécula e, (c) estrutura química, que define a conectividade dos átomos na molécula. Esses três conceitos estão ilustrados na Figura 1, usando nosso conhecimento atual, para a molécula de água.

Figura 1. Fórmula química (a); estrutura molecular, θABC ângulo de ligação, rAB comprimento de ligação (b); e estrutura química (c) da molécula de água
(Fonte: Produção do autor)
Uma vez definida a estrutura molecular, várias estruturas químicas podem ser propostas para representar a substância, somente escolhendo diferentes maneiras de conectar os átomos. No entanto, como os átomos são mantidos juntos na molécula? Em outras palavras, qual é a origem da ligação química?
As primeiras ideias sobre ligação química, embora muito elusivas, datam do final do século XIX. No entanto, foi somente após a descoberta do elétron, como um constituinte básico da matéria, que as tentativas de descrever como os átomos são mantidos juntos foram apresentadas. Dos chamados modelos eletrônicos da ligação química, o proposto por Lewis,[1] em 1916, foi de longe o mais frutífero. Segundo Lewis, uma ligação química resulta de átomos compartilhando um par de elétrons e ligações polares seriam formadas quando o par de elétrons não é igualmente compartilhado pelos átomos envolvidos na ligação. Com essas ideias simples, Lewis tentava explicar por que átomos podem formar uma ou mais ligações entre eles, e também porque certos átomos podem se ligar a vários outros ou, em outras palavras, porque alguns átomos podem apresentar diferentes “valências”. Além disso, com suas ideias, Lewis conseguiu estender os conceitos de ácido e base como substâncias capazes de aceitar ou doar um par de elétrons. Seu trabalho culminou com a publicação de um livro, em 1923, que se tornou um marco no assunto de valência e estrutura de moléculas.[2] Em seu livro, a valência de um elemento foi redefinida como o número de pares de elétrons que seu átomo pode compartilhar com outros átomos, e aos elétrons de valência foi atribuída a responsabilidade pela formação de ligações químicas. É importante enfatizar que Lewis desenvolveu suas ideias sem jamais considerar qualquer modelo atômico, embora, à época, o modelo de Bohr-Sommerfeld — que supunha que os elétrons se moviam em torno do núcleo atômico, em órbitas circulares e elípticas, sujeitos a certas regras de quantização — já havia produzido alguns resultados bastante satisfatórios, ao menos para átomos hidrogenoides.
No final do período pré-quântico, Lewis estabeleceu, portanto, o primeiro dogma sobre a natureza da ligação química:
Primeiro dogma: Uma ligação química é formada quando átomos compartilham um par de elétrons.
A mecânica quântica entra em cena
Os anos de 1925 e 1926 foram de grande excitação e representaram um fantástico marco para o desenvolvimento da ciência. Em uma sucessão de artigos, no período de julho de 2025 a dezembro de 2026, Heisenberg,[3-7] Schrödinger [8,9] e Wigner [10, 11] estabeleceram as bases de uma teoria que desvendaria o estranho comportamento de átomos e moléculas.
O primeiro grande passo para esta fantástica revolução foi dado por Heisenberg [3] num artigo em que ele expressava a ideia de que para entender o comportamento dos átomos, teríamos de abrir mão de tentar descrever a trajetória (momento e posição) dos elétrons em torno do núcleo atômico — “que não teríamos jamais como observar” — e construir um modelo onde somente variáveis “observáveis” fossem consideradas. Assim, no lugar de momento e posição, Heisenberg desenvolveu um modelo onde as variáveis “observáveis” (por exemplo, as frequências e intensidades das transições eletrônicas, características de cada átomo) desempenhavam um papel fundamental. As equações resultantes do modelo guardavam certas peculiaridades, o que tornava a teoria de difícil compreensão para a maioria dos cientistas à época. Por exemplo, para que as frequências de transição por ele calculadas se combinassem da mesma forma como experimentalmente observado por Ritz, Heisenberg [3] concluiu que as intensidades de transição deveriam ser multiplicadas numa certa ordem, fato bastante estranho, já que, no mundo clássico, a ordem dos fatores não altera o produto. Coube a Born e Jordan [12] reconhecerem que as equações de Heisenberg que determinam as intensidades de transição podiam ser escritas como equações matriciais, o que resolveria o incomodo fato acima mencionado, uma vez que o produto de matrizes não é necessariamente comutativo, ou seja, o resultado pode, sim, depender da ordem dos fatores. Por esta razão, a teoria de Heisenberg passou a ser chamada de “Mecânica Matricial”. Vale a pena ressaltar que, mesmo sem conhecer o conceito de matriz, Heisenberg acabou por introduzir a não comutabilidade de certas variáveis cinemáticas na mecânica quântica, algo de fundamental importância para o desenvolvimento da teoria. Porém, o problema de como eliminar as variáveis não observáveis, de uma maneira geral, dificultava o desenvolvimento e a aplicação da sua teoria para outros sistemas. A tour de force empreendida por Pauli [13] para aplicar, com sucesso, a mecânica matricial ao problema do átomo de hidrogênio expunha, claramente, essa dificuldade.
O segundo grande passo foi dado por Schrödinger que, numa sucessão de artigos, de janeiro a dezembro de 1926,[8,9] desenvolveu uma abordagem diferente da mecânica quântica, de mais fácil compreensão pela comunidade científica. Ao contrário das equações matriciais de Heisenberg, no modelo de Schrödinger, as propriedades dos sistemas quânticos eram obtidas a partir da resolução de equações diferenciais, tema bastante conhecido tanto dos matemáticos como dos físicos. No primeiro de seus artigos,[8] Schrödinger apresenta seu tratamento do átomo de hidrogênio e introduz sua equação “independente do tempo”, que é, de fato, uma equação de autovalor, um tipo já bem conhecido de equação e que aparece em várias outras áreas da ciência. Em artigos subsequentes, Schrödinger aplicou seu método a sistemas simples, como o oscilador harmônico, os rotores rígido e não rígido, e mostrou a equivalência entre sua “mecânica ondulatória” e a “mecânica matricial” de Heisenberg. E foi além, introduzindo sua equação dependente do tempo para lidar com perturbações dependentes do tempo. Uma coleção de seus artigos publicados durante 1926 pode ser encontrada na versão em inglês.[9] O nome “mecânica ondulatória” (wave mechanics, wellenmechanik) surgiu do fato de Schrödinger, por sugestão de Debye, ter usado as ideias de de Broglie [14] sobre a dualidade onda-partícula no desenvolvimento do seu modelo. Essa designação caiu em desuso logo que ficou claro de que as soluções das equações de Schrödinger não podiam ser interpretadas como sendo ondas associadas às partículas do sistema quântico em estudo. Adotou-se, então, o nome de Mecânica Quântica, muito mais apropriado, uma vez que uma característica marcante dos sistemas quânticos, e que os diferencia dos sistemas clássicos, é o fato de grande parte de suas propriedades serem quantizadas, ou seja, só poderem assumir valores discretos.
Quatro anos após o lançamento do livro de Lewis, e um ano após o primeiro artigo de Schrödinger sobre o átomo de hidrogênio, Heitler e London (HL) publicaram a primeira aplicação da nova mecânica quântica à química.[15] Neste artigo, considerado por muitos como o nascimento da Química Quântica, HL forneceram uma descrição quanto-mecânica da ideia de Lewis de que uma ligação química resulta de átomos compartilhando um par de elétrons. Os autores consideraram dois átomos de hidrogênio, H1 e H2, e aplicaram a mecânica quântica para calcular a energia do par de átomos como uma função de sua distância. Eles descobriram que, à medida que os átomos se aproximavam, um sistema mais estável poderia de fato ser formado (Ea) em relação ao dos átomos isolados, bem como um estado repulsivo (Eb), com energia sempre muito maior do que a soma da energia dos átomos isolados. A Figura 2A mostra a variação de energia (em eV) com a distância internuclear (em unidades atômicas) para esses dois estados. Figuras deste tipo são chamadas, genericamente, de superfícies de energia potencial (SEP). O sistema mais estável poderia então ser identificado com a molécula H2, uma prova definitiva de que a mecânica quântica poderia prever a formação de uma molécula a partir de seus átomos constituintes. No entanto, por que um estado repulsivo também poderia ser formado? A resposta para esta pergunta está fora do escopo do presente trabalho, mas o leitor interessado pode consultar a referência.[16,17]
Poderíamos dar um passo adiante na análise HL e observar as componentes potencial, V, e cinética, T, da energia total, E, como uma função da distância internuclear. A Figura 2B mostra que o resultado desta decomposição indica que a ligação química é formada devido a uma grande queda na energia potencial total do sistema. E isso nos leva ao segundo dogma [18] sobre a natureza da ligação química:

Figura 2. (A) Variação da energia com a distância entre os átomos de hidrogênio tomando como referência (zero de energia) a soma das energias dos átomos a uma distância infinita; (B) variação das componentes potencial e cinética da energia total.
(Fonte: Produção do autor)
Segundo dogma: Ligações químicas resultam de uma redução da energia potencial total do sistema.
Outra propriedade que pode ser calculada é a densidade eletrônica dos átomos isolados e como a densidade do sistema composto por dois átomos de hidrogênio varia com a distância internuclear. A densidade eletrônica clássica, a cada distância internuclear, é simplesmente a superposição das densidades de cada átomo naquela distância. A Figura 3 mostra as densidades eletrônicas total, clássica e quântica, para o sistema constituído de dois átomos de hidrogênio, em diferentes distâncias internucleares e também na distância de equilíbrio da molécula de H2, obtidas no mesmo nível de cálculo usado para obter as energias na Figura 2.

Figura 3. Densidades eletrônicas totais, clássica (vermelho) e quântica (preto), da molécula de H2 em diferentes distâncias internucleares e na distância de equilíbrio (0,75 Å). Os dois pontos ao longo do eixo das abcissas marcam a posição dos núcleos dos átomos de hidrogênio.
(Fonte: Produção do autor)
Esta Figura mostra que no processo de formação da ligação há um aumento da densidade eletrônica na região internuclear em relação à clássica, em detrimento da densidade próxima aos núcleos, sendo esse aumento proporcionado por algum efeito quântico.
Desconstruindo os dogmas
O processo de desconstrução é, de fato, muito chocante na medida em que grande parte da comunidade química está profundamente identificada com esses dois (na verdade, três [18]) dogmas. No entanto, a desconstrução é baseada em fatos muito claros e irrefutáveis, conforme descrito abaixo.
O primeiro dogma pode ser facilmente desconstruído examinando a SEP da molécula mais simples possível, H2+, obtida por Bates et al.[19]. Esta é uma molécula muito estável, embora muito reativa, com uma energia de dissociação de ligação (Do) prevista de 2,79 eV e distância internuclear de 1,06 Å, em comparação com os valores experimentais de 2,65 eV e 1,052 Å.[20] A ligação nesta molécula envolve somente um elétron, contrariando o primeiro dogma. Vale comentar que, ao longo dos anos, várias outras moléculas apresentando ligações de 1 elétron foram observadas.[17]
A desconstrução do segundo dogma decorre da incompatibilidade da análise com base na decomposição da energia total nas componentes cinética e potencial com a análise baseada na densidade eletrônica. Antes de prosseguir, enfatizo não haver nada de errado com o cálculo realizado para obter a SEP mostrada na Figura 2, mas com a interpretação dos resultados. À medida que os átomos se aproximam, a energia de repulsão eletrônica, Vee, bem como a energia de repulsão nuclear, Vnn, aumentam. Além disso, para deslocar a densidade eletrônica de regiões próximas aos núcleos para a região de ligação, é preciso trabalhar contra o potencial de Coulomb, o que implica que esse processo também aumenta Ven e, consequentemente, não pode contrabalançar o aumento de Vee e Vnn. Portanto, o segundo dogma é totalmente incompatível com a conclusão baseada na análise da densidade eletrônica. Essa incompatibilidade é uma indicação clara de que a análise baseada na decomposição da energia em seus termos de energia cinética total e energia potencial total é inapropriada para o entendimento da natureza da ligação química.
Parece que estamos de volta à estaca zero, e a questão permanece: qual é a natureza da ligação química? Para responder a esta pergunta, é preciso lembrar de que as moléculas são entidades quânticas, ou seja, sua existência não pode ser classicamente prevista. Portanto, deve haver um efeito quântico responsável pela formação de uma ligação química. Mas qual efeito?
A busca por um efeito quântico
O primeiro a abordar esse problema foi Ruedenberg.[21] Em um artigo de 51 páginas, extremamente elegante, mas de difícil compreensão, Ruedenberg identificou o efeito quântico e propôs expressões para o cálculo da contribuição deste efeito para a formação e estabilidade de uma ligação química. Creio que, em função da complexidade do artigo, suas conclusões permaneceram desconhecidas por grande parte da comunidade dos químicos.
Gostaria de mostrar que as mesmas conclusões podem ser alcançadas, de uma forma muito mais simples, primeiro identificando o fenômeno quântico responsável pela ligação química e, em seguida, tentando analisar como esse efeito contribui para a estabilização da molécula, ou seja, para a formação de uma ligação química. Fazendo o caminho inverso ao de Ruedenberg, esse tipo de análise fornece uma visão muito mais profunda da natureza da ligação química e nos permite estender esse conceito além de seus limites.[17]
O ponto de partida de nossa análise é o famoso experimento da dupla fenda mostrado na Figura 4. Se fótons ou elétrons são enviados através da fenda 1 (com a fenda 2 fechada), a distribuição de intensidade para elétrons que chegam em diferentes pontos do anteparo é representada pela curva P1. Similarmente, a curva P2 representa o mesmo quando as partículas quânticas são enviadas através da fenda 2 com a fenda 1 fechada. Classicamente, se o experimento for repetido com ambas as fendas abertas, a intensidade total seria somente a soma P1 + P2. Entretanto, isso não é o que se observa experimentalmente, como mostrado à direita da Figura 5. Para entender essa diferença de comportamento, vamos relembrar a hipótese de de Broglie [15] sobre a dualidade onda-partícula, confirmada experimentalmente por Davidson e Germer.[22] De acordo com de Broglie, qualquer partícula quântica (um elétron, por exemplo) que se desloca com momento linear p tem a ela associada uma onda com comprimento de onda λ tal que λ = h/ p, onde h é a constante de Plank. Da mesma forma, um fóton de comprimento de onda λ tem a ele associado um momento linear p. Assim, se usarmos o comportamento ondulatório do elétron poderemos analisar o experimento da dupla fenda independentemente de estarmos usando fótons ou elétrons.

Figura 4. Difração de fótons ou elétrons
(Fonte: Produção do autor)
A expressão mais simples para uma onda se deslocando na direção do anteparo pode ser escrita como Ψ = f e-iωt , onde f é a amplitude e ω a frequência de oscilação. A intensidade da onda num ponto qualquer do anteparo é proporcional ao quadrado da amplitude, |Φ|2. Portanto, caso fótons e elétrons se comportassem classicamente, a intensidade em cada ponto do anteparo, com as duas fendas abertas, seria dada por P12 =|Φ1|2 + |Φ2|2, resultado completamente distinto do observado. Entretanto, o mais surpreendente é que o resultado correto pode ser obtido somando-se as amplitudes para cada evento separado antes de elevar ao quadrado: P12 = |Φ1+Φ2|2 e expressando o resultado como:

Por quê? Não sabemos, mas é assim que a natureza funciona.
Os dois primeiros termos do lado direito da Equação 1 representam o resultado clássico, enquanto o terceiro termo é um efeito de interferência quântica. É importante enfatizar que quanto mais próximas às frequências (energias) dos fótons ou à energia dos elétrons, mais intenso é o efeito de interferência.
Nesta altura, o leitor deve estar se perguntando o que isto tudo tem a ver com ligação química. Caso o leitor já tenha alguma familiaridade com mecânica quântica, sugiro, neste ponto, que consulte a referência, [17] onde um tratamento mais completo é apresentado. Aqui vamos seguir um tratamento alternativo, reexaminando o resultado que obtivemos para a densidade eletrônica (Figura 3). A densidade eletrônica na molécula de H2 também está associada ao quadrado da amplitude (que chamamos na química de função de onda) e isto sugere que talvez pudéssemos expressá-la da seguinte maneira:

A parcela clássica é simplesmente a superposição das densidades dos átomos a cada distância internuclear e não concentra densidade suficiente na região internuclear para estabilizar a molécula, ou seja, para garantir a formação de uma ligação química. Vejamos o que obteríamos se da densidade total subtraíssemos a contribuição clássica.
O resultado desta operação está mostrado na Figura 5A, onde se vê claramente que a componente ρINT desloca densidade eletrônica de regiões próximas aos núcleos dos átomos para a região de ligação, aumentando a densidade na região internuclear. Previamente (Figura 3), tínhamos indicação de que a formação da ligação química ocorria com um aumento da densidade eletrônica na região internuclear, relativa à densidade clássica, às expensas da densidade próxima aos núcleos, este aumento causado por algum efeito quântico. Da Figura 5A podemos concluir que este efeito é a interferência quântica.

Figura 5. (a) Densidade eletrônica total, e componentes clássica e de interferência para a molécula de H2 na distância internuclear de equilíbrio; (b) variação da energia total e das componentes clássica e de interferência com a distância internuclear.
(Fonte: Produção do autor)
O próximo ponto a ser examinado é como esse efeito de interferência contribui para a estabilização do sistema (molécula H2). É razoável supor que da mesma forma que a densidade eletrônica total pode ser decomposta em componentes clássica e de interferência, a energia total também possa ser escrita sob a forma: E[tot] = E[QC] + E [INT], onde QC é a parcela da energia quanto-mecânica total com interpretação clássica embora seja calculada quanticamente. A hipótese é verdadeira e o leitor pode encontrar o tratamento completo na referência:[17]

onde E[QC] contém todos os termos que têm análogos clássicos. Por sua vez, E[INT] pode ser escrita como:

onde S é uma medida da interferência quântica e ε (s) é tal que lims→0 ε (S) = 0. Ou seja, na ausência de interferência (S = 0) não há formação da ligação química. E a Figura 5B mostra, claramente, que é a componente de interferência a responsável pela formação do poço de potencial que garante a estabilidade da molécula de H2 em relação aos dois átomos isolados.
Conclusão
Seria este resultado geral? Nos últimos 15 anos, temos buscado mostrar a generalidade desses resultados, examinando um grande número de moléculas, diatômicas e poliatômicas, apresentando os mais diversos tipos de ligação química. Vários trabalhos foram publicados e, para o leitor mais interessado, recomendo a referência.[17] Os resultados têm sido extremamente consistentes e nos permitem tirar as seguintes conclusões a respeito do papel da interferência quântica:
- A ligação química é uma manifestação do fenômeno de interferência quântica, responsável pela formação de todos os tipos de ligação, independentemente do número de átomos ou de elétrons envolvidos e da natureza dos átomos;
- Do ponto de vista da energia do sistema, a interferência se manifesta como uma redução da energia cinética de interferência à medida que os átomos se aproximam [17];
- A interferência também é responsável pelo aumento da densidade eletrônica na região internuclear à medida que a ligação química é formada.