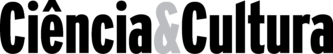Wilson Gomes, professor titular de Teoria da Comunicação na Universidade Federal da Bahia (UFBA), é uma figura central na reflexão sobre o papel da comunicação no combate à desinformação e ao autoritarismo. Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT-DD), alia sua produção acadêmica à atuação como colunista e comentarista, promovendo o diálogo entre ciência, arte e sociedade. Seu trabalho enfatiza a importância de um ecossistema comunicacional que fortaleça o jornalismo e a democracia em tempos de crescente polarização e disseminação de notícias falsas.
A desinformação, amplificada pelas redes sociais, desafia os pilares democráticos ao alimentar extremismos e corroer o diálogo plural. Nesse ambiente, a busca por curtidas e engajamento, muitas vezes guiada por interesses ilícitos, transforma plataformas digitais em arenas de espetáculos descomprometidos com a verdade. Wilson Gomes argumenta que a comunicação confiável é a principal barreira contra essa tendência, destacando a urgência de estratégias que fortaleçam o jornalismo baseado em dados e na ética.
O impacto da desinformação transcende a esfera virtual, intensificando a polarização e favorecendo discursos de ódio. Esses fenômenos ameaçam a convivência democrática ao criar um ambiente hostil ao debate e à construção de consensos. Para o pesquisador, o enfrentamento dessa crise exige não apenas iniciativas de regulação e verificação de fatos, mas também um investimento robusto em educação midiática, que capacite a população a identificar informações confiáveis e a resistir a narrativas enganosas.
Outro ponto de destaque no trabalho de Wilson Gomes é a interseção entre comunicação, arte e ciência como um meio de engajar a sociedade na defesa da democracia. Ele acredita que a arte, aliada ao conhecimento científico, pode ser uma poderosa ferramenta de sensibilização e mobilização. Ao propor novos olhares e narrativas, essas áreas combinadas ajudam a criar pontes entre setores da sociedade que, muitas vezes, encontram-se isolados em suas próprias bolhas informativas.
Wilson Gomes defende que, em um cenário de múltiplas crises globais, a comunicação não é apenas um instrumento técnico, mas um recurso essencial para a saúde social e o bem comum. Sua contribuição para o entendimento do papel estratégico da comunicação é vital para o fortalecimento da democracia, sendo um chamado para a responsabilidade compartilhada de todos os atores sociais na construção de uma sociedade mais justa, informada e plural.
***
Renato Janine Ribeiro – É um grande prazer receber você, Wilson Gomes, nesta série da Ciência & Cultura, a histórica revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), criada logo após a fundação da entidade, em 1949. O tema desta edição é “Desinformação, Democracia e Autoritarismo”. Considerando sua formação em filosofia, sua importância como referência nos estudos de comunicação no Brasil e o fato de que a comunicação é a base da democracia – com o diálogo, o respeito ao outro e a ideia de que todos somos iguais em direitos, apesar de diferenças de status e outras desigualdades – começo te perguntando: por que você foi uma das primeiras pessoas a perceber, ainda em 2016, que Bolsonaro ganharia as eleições? Naquele período, ele era alguém que não era levado a sério e sua campanha se destacava, sobretudo, no Facebook.
Wilson Gomes – Essa história começa um pouco antes. Havia sinais de uma mudança séria na política, especialmente na política online, que já vinham sendo percebidos por quem monitorava as discussões nos ambientes digitais. Ainda assim, 2016 foi um ano decisivo, em parte por um episódio fundamental: a vitória de Donald Trump. Até aquele momento, nem mesmo a família Bolsonaro parecia acreditar que ele pudesse vencer. Mas quando um outsider radical, considerado uma figura bufônica, conseguiu ser eleito nos Estados Unidos – um país com uma democracia tradicional e instituições consolidadas –, a possibilidade de algo similar no Brasil se tornou palpável. A vitória de Trump serviu como um catalisador, mas o movimento que levou ao bolsonarismo já vinha sendo construído. Havia uma convergência de forças conservadoras no Brasil, incluindo líderes evangélicos como Silas Malafaia e Marco Feliciano, que, naquela época, ainda tinham grande influência. Desde 2012, esses grupos começaram a organizar uma militância digital muito forte. Eu acompanhava isso no Twitter e chamava esses grupos de “Feios, Sujos e Malvados”, porque militavam, não pelos próprios direitos, mas contra os direitos de outros grupos – homossexuais, mulheres, entre outros. Esse movimento representava uma reação antiprogressista mais do que propriamente conservadora. Havia um sentimento de que os avanços progressistas tinham ido longe demais, e o ambiente digital permitiu que essas vozes se conectassem, independentemente de barreiras físicas. Uma igreja em Belém do Pará podia dialogar diretamente com outra no Rio Grande do Sul, criando uma rede de apoio em torno de figuras públicas e causas como a chamada “cura gay”. Esse discurso cresceu, alimentado por críticas aos direitos humanos e pela caricatura de que o progressismo protegia bandidos – resultando em slogans como “defenda o bandido e leve para casa”. Além disso, o antipetismo desempenhou um papel central. Desde 2014, ele se consolidava como uma força eleitoral poderosa, alimentado por um sentimento antipolítica que era global. No Brasil, esse sentimento se voltou contra o PT por razões óbvias: era o partido no poder. O PT enfrentou críticas tanto justificadas quanto preconceituosas. Por um lado, havia resistência elitista à ascensão de classes mais baixas e ao acesso ampliado a bens e espaços antes restritos. Por outro, escândalos de corrupção associados ao partido – como o mensalão e a operação Lava Jato – consolidaram a percepção de que o PT era sinônimo de corrupção. Esse antipetismo encontrou terreno fértil no lavajatismo, um movimento punitivista focado em combater a corrupção política, mas com claro viés antipetista. Assim, formou-se uma equação fatal: política era igual a corrupção, corrupção era igual ao PT, e, portanto, combater o PT parecia a solução para todos os problemas políticos do país. Esses elementos – a reação antiprogressista, o antipetismo e o ambiente digital – convergiram, criando as condições ideais para o surgimento do bolsonarismo.
“Durante décadas, o jornalismo foi o principal mediador do discurso público, filtrando e moderando conteúdos para atingir o maior número possível de pessoas. Esse sistema, que privilegiava posições moderadas, foi desafiado pela era digital.”
RJR – Para enfatizar a comunicação: você começou mencionando a habilidade no uso dos meios digitais. 2016 foi um marco nesse sentido: ano do Brexit, da eleição de Trump e da revelação sobre a Cambridge Analytics, que teria realizado um direcionamento altamente preciso da comunicação com base nos perfis das pessoas nas redes sociais. Por exemplo, nos EUA, onde o voto não é obrigatório, direcionavam informações a potenciais eleitores negros, espalhando falsas alegações de que Hillary Clinton seria racista contra eles, desestimulando-os a votar nela. Esse tipo de estratégia, extremamente segmentada, foi apontado como uma das causas da vitória do Brexit no Reino Unido e de Trump nos EUA. A questão que fica é: por que a esquerda não demonstra essa mesma habilidade nas redes sociais? Inicialmente, parecia que a Internet abriria um espaço utópico para uma discussão mais livre, sem a necessidade de grandes investimentos, como os de uma empresa de TV. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, declarou em 1997 que a Internet oferecia a possibilidade de um novo Renascimento. No entanto, quem soube explorar melhor esse potencial foi a extrema-direita. Hoje temos, por exemplo, um candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, que utiliza as redes com maestria, disseminando ódio e mentiras. Em uma conversa com Lula e um ex-ministro da Educação, após uma live de duas horas, eu sugeri: “Presidente, recorte algumas de suas falas em trechos curtos, de 30 segundos a um minuto, e divulgue nas redes”. Lula, então, contrastou com uma experiência do passado: contou que, ao criar o PT, viajou com Chico Mendes quatro horas de carro até o interior do Acre, apenas para descobrir que não havia ninguém na reunião. Para ele, o esforço presencial é muito diferente da aparente facilidade do digital. Ainda assim, o PT e a esquerda em geral enfrentam grandes dificuldades nesse ambiente. Como explicar esse enorme investimento da extrema-direita nas mídias digitais e a presença tímida da esquerda?
WG – É realmente intrigante. Nós lembramos bem da campanha do PT em 1989, quando a esquerda mostrou habilidade ao se adaptar à televisão. Durante os 30 anos que precederam, o know-how em campanhas televisivas foi desenvolvido globalmente, mas, no Brasil, a ditadura limitava a propaganda eleitoral. Em 1989, com o fim desse cenário, o PT surpreendeu ao criar a “Rede Povo”, uma espécie de paródia da Rede Globo, usando a linguagem televisiva de forma inovadora. Lula, em especial, liderou essa adaptação ao meio televisivo. Então, por que a esquerda, que rapidamente se adaptou à era da TV, não conseguiu fazer o mesmo na era digital? É uma pergunta sem resposta clara. Curiosamente, nos EUA, a primeira grande campanha digital de sucesso foi de Barack Obama, em 2008, utilizando redes sociais e tecnologias disponíveis na época, como YouTube e interações online. Foi um modelo de sucesso que muitos esperavam ver replicado pela esquerda globalmente. No Brasil, porém, a esquerda avançou pouco nas redes sociais digitais. Blogs progressistas foram explorados, mas as redes, que já tinham grande alcance, foram subutilizadas. Em 2016, foi a extrema-direita que deu o grande salto. Isso se deve, em parte, às características do ambiente digital, que facilita a associação a grupos extremistas com um custo social e pessoal muito menor do que o envolvimento físico. Outro fator é a mudança na economia da atenção. Durante décadas, o jornalismo foi o principal mediador do discurso público, filtrando e moderando conteúdos para atingir o maior número possível de pessoas. Esse sistema, que privilegiava posições moderadas, foi desafiado pela era digital. Hoje, influenciadores capturam diretamente a atenção do público, monetizando-a ou convertendo-a em capital político, como no caso de Pablo Marçal. Sem a necessidade de passar pelos critérios de edição jornalística, é possível falar diretamente com nichos e radicalizar discursos para expandir o público radical. Essa ausência de filtros permitiu que posições extremas, tanto à direita quanto à esquerda, ganhassem espaço nas redes. Além disso, a extrema-direita inovou no uso da tecnologia, como bots e propaganda computacional, criando uma sensação de apoio em massa, mesmo que esse “apoio” fosse simulado por scripts. Isso foi decisivo na campanha de Trump e em outras vitórias políticas, mostrando como a tecnologia pode ser usada para moldar percepções e mobilizar eleitores. (Figura 1)

Figura. Impeachment da Dilma, em 2016, é exemplar do sentimento antipolítica e ódio moralizador que contribuem para polarização e ameaças à democracia
(Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil. Reprodução)
RJR – Gostaria de retomar um ponto que você mencionou, pedindo para desenvolvê-lo. Você falou sobre o sucesso de campanhas baseadas no ódio, e acho que isso é um aspecto interessante. Sabemos que a política é movida mais pelo afeto do que pela razão. Até o PSDB, que apelava para a racionalidade, tinha campanhas nesse sentido. Lembro de uma aqui em São Paulo: o Fleury usava “Eu amo São Paulo”, o Maluf usava um coração, e o PSDB lançou “honradez e competência”. Hoje, é difícil imaginar alguém gritando “honradez, competência” nas ruas, mas essas campanhas funcionaram em seu tempo. Agora, o que me chama a atenção é o quanto figuras como Trump, Bolsonaro e, mais recentemente, Pablo Marçal atraem pelo ódio. Por que o ódio é tão cativante? Penso também que há um paralelo interessante: muitas pessoas gostam de filmes de terror, de violência na tela. Recentemente, li sobre a soltura do assassino do Shopping Morumbi, aquele estudante de medicina que atirou durante uma sessão de “Clube da Luta”. Ele ficou 25 anos preso. Esse é um caso extremo, mas demonstra que, mesmo na mídia tradicional, há esse elemento de violência que, em tese, busca uma catarse. No caso dele, deu errado: ele imitou o filme em vez de aliviar sua raiva. Parece que estamos lidando não apenas com uma questão midiática, mas também com algo que reflete o espírito do tempo. Estamos nesse espírito do tempo?
WG – O ódio é altamente mobilizador, talvez até mais que o amor. Embora, para Maquiavel, o sentimento mais mobilizador seja o medo. No entanto, proponho um outro ângulo: não é apenas ódio ou violência; é o ódio moralizado, alimentado por um sentimento de ultraje moral, de indignação ética. A violência no entretenimento leva à catarse e, depois, acalma. Aqui, o ódio funciona de outra maneira: ele mantém um grupo indignado e com raiva por muito tempo. Se fosse apenas ódio, as pessoas já teriam se cansado, porque odiar é exaustivo. Mas essa indignação moral sustenta o ódio, o renova. É uma extrema moralização da política, que engaja as pessoas em reações intensas, até violentas, mas com justificativa moral. No Brasil, sendo um país de base católica, o ódio precisa de uma aceitação social. O ódio pessoal se resolve de forma privada, mas o ódio coletivo forma grupos raivosos, sustentados por uma autorização social. Um exemplo: uma avó se chocou ao ouvir o neto, durante o impeachment de Dilma em 2015, xingar a ex-presidente de “vaca” ao vê-la na TV. Para o menino, aquilo era permitido no contexto familiar, pois havia uma justificativa moral. Esse ódio coletivo é recompensado socialmente. Ele recebe “likes”, compartilhamentos, reconhecimento. Em 2013, ao analisar redes sociais, notei um fenômeno perturbador: insultos misóginos contra Dilma eram frequentemente postados por jovens mulheres. Fiquei surpreso, porque eram jovens insultando uma mulher com idade para ser sua avó. Isso mostra o quanto o ódio é autorizado socialmente, recompensado pelo grupo, validado como aceitável. (Figura 2)
RJR – Quando o ódio recebe validação moral, ele se torna mais importante que qualquer regra, prática ou respeito ao outro. Isso ocorre também em outros extremos identitários. Li recentemente um artigo no “The Conversation” em que um professor sul-africano dizia que a palavra “África” é preconceituosa, criada pelos navegadores em 1400. Escrevi ao editor, que confirmou o erro e corrigiu o texto, mas a justificativa do autor era promover uma causa justa contra o preconceito. É um exemplo de como a moralidade pode justificar qualquer coisa, até mesmo uma mentira. Isso me leva a outra questão. Há dois anos, escrevi um livro sobre Maquiavel analisando os presidentes da Nova República no Brasil com base no par “virtù” e “fortuna”. Collor, Lula e Sarney chegaram ao poder pela fortuna; Fernando Henrique e Dilma perderam o poder por ela. Lula foi o único que usou virtù tanto para ascender quanto para se manter. Já Bolsonaro foi o homem errado na hora certa. Gostaria de saber sua opinião: para governar, é preciso habilidade, não só coragem, mas a capacidade de negociar, como Lula e Fernando Henrique demonstraram.
WG – Há vários fatores em jogo. Tenho uma hipótese — difícil de comprovar, pois as circunstâncias foram essas: se Eduardo Cunha não tivesse se sacrificado politicamente para derrubar Dilma, talvez hoje falássemos de “cunhismo”, e não “bolsonarismo”. Cunha parecia pronto para surfar naquela onda de antipetismo e antipolítica. Bolsonaro, porém, assumiu esse papel por uma série de fatores. Primeiro, ele não era apenas uma figura isolada; eram quatro Bolsonaros, com os filhos articulando diferentes frentes, incluindo uma rede internacional de extrema-direita. Ele se adaptou ao mundo digital, mesmo não sendo um nativo dessa cultura, e aproveitou o momento. Além disso, Bolsonaro incorporou qualidades que o tornaram o líder perfeito para aquele contexto: ele era autêntico em seu anti-esquerdismo e parecia uma reencarnação da direita militar. Sua “autenticidade” — comendo pão com margarina em mesas bagunçadas, falando sem filtro, gerando polêmicas — foi essencial para sua construção de imagem. A cultura digital da época, dominada por irreverência, misoginia e “lacradas”, encontrou nele o representante ideal. Ele soube utilizar redes como o WhatsApp para disseminar conteúdos que ressoavam com essa autenticidade improvisada. Foi uma combinação de fatores culturais, políticos e digitais que o tornaram o líder da extrema-direita brasileira naquele momento.
“O diálogo foi substituído por confrontos, e a democracia, que deveria promover o pluralismo, está ameaçada.”
RJR – Gostaria de começar com uma breve explicação. Para quem não sabe, “incel” significa celibatário involuntário. Refere-se a rapazes ou homens solteiros que não desejam estar nessa condição, mas que não conseguem encontrar uma parceira. Isso acaba gerando um ressentimento profundo, algo que, de certa forma, se conecta ao que você mencionou sobre homens brancos que sentem que seu espaço foi tomado por cotistas. É o caso de pessoas heterossexuais que acreditam não haver mais espaço para elas. Em vez de aceitar as mudanças sociais, desenvolvem um ressentimento que, em alguns casos, pode culminar em violência. Lembro-me de um episódio triste, ocorrido há cerca de dez anos, de um pai que, enquanto caminhava abraçado ao filho na Avenida Paulista, em São Paulo, foi violentamente agredido por um homem que achou que se tratava de um casal gay. Mesmo que fosse um casal gay, não haveria justificativa para a agressão. Esse tipo de violência revela o quanto estamos presos às aparências. Quero aproveitar e pedir que você fale um pouco sobre democracia. Apesar de muitas das suas críticas serem voltadas à extrema-direita, você também aponta erros na esquerda. Então, como você vê a democracia no Brasil hoje? Quais falhas considera mais evidentes? E o que deveria ser prioritário para fortalecê-la?
WG – Refletindo sobre o cenário atual, é inevitável perguntar: por que tantas pessoas continuam votando na extrema-direita? Por que Trump está no centro das atenções pela terceira vez? Por que Bolsonaro teve tanto apoio? Na Europa, por que quase metade dos italianos vota na extrema-direita, e na França, por que esse movimento ganhou força a ponto de quase vencer as últimas eleições? E na Alemanha, tão civilizada, por que a extrema-direita também avança? Como alguém que analisa o cotidiano da política, admito que é difícil fazer previsões de longo prazo. As transformações são tão rápidas que mal conseguimos acompanhá-las. Algo que antes levaria uma década agora ocorre em um ano. Precisamos entender o que está acontecendo enquanto ainda temos tempo, ou será tarde demais. A grande questão para os democratas hoje, em minha opinião, é: por que metade dos americanos continua votando em Trump, mesmo após terem vivido sob seu governo? No Brasil, algo semelhante aconteceu em 2018, quando muitos votaram em Bolsonaro por estarem com raiva do PT. Mas raiva não é boa conselheira. O problema vai além de influências externas, como fake news ou algoritmos. Existe um descontentamento profundo com a política, e parte disso é uma falência do projeto político da esquerda, tanto nas Américas quanto na Europa. Como alguém de esquerda, digo isso com tranquilidade: precisamos reconhecer que algo deu errado. A direita moderada foi engolida pela extrema-direita. O centro político foi desertado, e a militância, tanto à esquerda quanto à direita, se tornou cada vez mais radical. O diálogo foi substituído por confrontos, e a democracia, que deveria promover o pluralismo, está ameaçada. A democracia só funciona quando reconhecemos o pluralismo e a legitimidade de posições divergentes. Isso inclui respeitar as minorias e negociar pontos de consenso, como o direito de cada um viver sua vida conforme seus valores. A democracia exige tolerância, mas, infelizmente, estamos vivendo em uma sociedade onde cada lado vê o outro como um inimigo a ser eliminado. Precisamos de construtores de pontes, de espaços de negociação onde possamos conviver e encontrar soluções comuns. O centro político, muitas vezes visto como covarde, é, na verdade, essencial para garantir o diálogo. É preciso humildade para aceitar que vivemos em sociedades pluralistas, onde nem todas as posições nos agradam, mas todas têm o direito de existir, desde que respeitem os limites democráticos. Se queremos salvar a democracia, devemos abandonar o dogmatismo e reconhecer que negociar é inevitável. Não é uma escolha; é uma condição necessária para a convivência em sociedades diversas.
“A democracia exige tolerância, mas, infelizmente, estamos vivendo em uma sociedade onde cada lado vê o outro como um inimigo a ser eliminado.”
RJR – A triste conclusão a que chego é que vivemos um momento muito desfavorável para a sensibilidade democrática. É como se quase não houvesse mais democratas. Não se trata de ser de direita, centro ou esquerda, mas de adotar essas posições com base em valores democráticos. E o que seriam esses valores? Basicamente, o respeito à vontade da maioria quando cabível, como nas eleições, e o respeito às diferenças. Aceitar que o outro pense, viva e tenha valores diferentes. Isso me faz lembrar dos períodos das décadas de 1930 e de 1960/70, quando, infelizmente, era comum que tanto a direita quanto a esquerda desprezassem a democracia, para dizer o mínimo. No Brasil, tivemos um longo aprendizado. A ditadura durou 21 anos, e foi durante esse período que a esquerda brasileira — não só por abandonar o uso de armas, o que considero legítimo para os poucos que se insurgiram contra a ditadura — passou a entender, de forma mais ampla, a importância da diversidade e da convivência com as diferenças. Hoje, parece que isso está novamente em crise. Vou pedir para você concluir. (Figura 2)

Figura 2. Em 1997 o Brasil assinou a Declaração Universal da Democracia, mas pedidos recentes de intervenção militar demonstram história não-resolvida com a Ditadura
(Legenda: Correio da Manhã/ Arquivo. Reprodução)
WG – O que está em alta atualmente é ser de direita e defender a liberdade de expressão, por exemplo. Isso é o novo, o diferente. Não é mais como em nossa geração, ou em gerações anteriores, quando as posições mais progressistas — justiça social, igualdade, direitos, reconhecimento de minorias — eram vistas como inovadoras e atraentes. Há uma mudança fundamental aí que me preocupa. Nossos filhos, por exemplo, são mais diretos e pragmáticos, talvez até menos idealistas do que nós. A economia da atenção pública mudou muito. Hoje, as opiniões não passam por filtros ou por “gatekeepers” que poderiam moderar e refinar as posições. Agora, fala-se em curadoria, mas online ela é praticamente inexistente. Cada um faz suas próprias escolhas, e isso, às vezes, leva as pessoas a grupos mais radicalizados. Outro ponto é que a esquerda perdeu parte de sua capacidade de fascinar. Ela critica o capitalismo, mas, enquanto tinha o socialismo como alternativa, isso parecia interessante. Quando essa alternativa desapareceu, o discurso anticapitalista perdeu impacto, especialmente para os mais jovens. Isso explica, em parte, por que alguns grupos, especialmente os mais pobres, que antes votavam na esquerda, deixaram de fazê-lo. Enquanto a proposta era “vote pela justiça social, pela igualdade, pelo prato de comida na mesa, pelo acesso à saúde e à educação”, ela fazia sentido tanto para o pobre quanto para quem tinha sensibilidade social. Mas, ao moralizar o voto — por exemplo, pedindo que as pessoas votem contra a transfobia ou a favor do aborto — a esquerda perdeu conexão com parte desse público. Um exemplo claro é o evangélico popular: uma pessoa preta, periférica, frequentemente mulher, que, em teoria, deveria ser um “combo” ideal para a esquerda. Mas, quando a pauta muda de justiça social para questões morais, essa pessoa não se sente mais representada. Ela diz: “Moralmente, estamos em lados opostos. Você é progressista, eu sou conservador”. Assim, perde-se o terreno comum de diálogo. A esquerda trocou o discurso de “vote por um prato de comida para todos” pelo de “vote por causas morais”. E, nas questões morais, os pobres não estão unidos. Com isso, a esquerda perde a capacidade de atrair, apostando no que divide. Não digo que essas pautas — de respeito às minorias, de avanço nos direitos — não sejam importantes. A questão é como comunicá-las. Estamos perdendo a capacidade de criar pontes, de enxergar o que une as pessoas. A esquerda, os progressistas de forma geral, estão deixando de ser vistos como a grande inovação. E, pior, estão perdendo o entendimento do que acontece no mundo. Para mim, isso é um grande problema. E não afeta apenas o sucesso ou fracasso eleitoral da esquerda, mas reflete diretamente na qualidade da democracia.