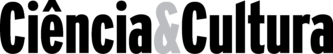Introdução
No ano de 2025, celebramos o centenário de um dos acontecimentos mais marcantes da história do conhecimento: o surgimento da mecânica quântica. A publicação do artigo de Werner Heisenberg em 1925, seguida das contribuições decisivas de Born, Jordan, Dirac e Schrödinger, consolidou uma nova forma de pensar os fenômenos naturais — uma forma que não apenas reformulava os fundamentos da física, mas que desafiava, de maneira profunda, nossas concepções sobre realidade, causalidade, objetividade e até mesmo o papel do sujeito na produção do saber.
A mecânica quântica é, sem dúvida, um dos pilares das tecnologias contemporâneas: da física do estado sólido à computação quântica, das ressonâncias magnéticas ao laser, ela está presente em inúmeras aplicações. Mas o seu impacto vai além da dimensão técnica. Desde seu nascimento, essa teoria provocou uma série de interrogações filosóficas que continuam reverberando até hoje. O que significa, afinal, dizer que um sistema físico só adquire determinadas propriedades quando é medido? Como pensar uma natureza que, ao nível mais fundamental, não se apresenta como composta por objetos dotados de propriedades bem definidas, mas como redes de possibilidades, relações e indeterminações?
A filosofia da mecânica quântica não se limita a esclarecer conceitos ou interpretar formalismos. Ela nos convida a refletir sobre os próprios limites da objetividade científica, sobre os modos de inscrição do sujeito nas práticas experimentais e sobre os horizontes do conhecimento em uma época marcada por transformações simultaneamente epistemológicas, tecnológicas e culturais. Celebrar os cem anos da mecânica quântica é, portanto, muito mais do que rememorar um feito histórico: é reconhecer que ainda estamos aprendendo a escutar o que ela tem a nos dizer.
O nascimento da mecânica quântica e o problema da representação
A emergência da mecânica quântica no início do século XX marcou uma ruptura profunda com os paradigmas da física clássica. Não se tratava apenas da substituição de uma teoria por outra mais precisa, mas da inauguração de uma nova maneira de descrever — e, talvez mais radicalmente, de conceber — o comportamento da matéria e da energia em escala microscópica. Se a física de Newton e Maxwell operava com uma representação contínua, determinista e objetiva dos fenômenos, a nova física introduzia incertezas, descontinuidades e limitações fundamentais à representação do real.
“A mecânica quântica é, sem dúvida, um dos pilares das tecnologias contemporâneas.”
A história dessa virada começa com uma série de impasses. A radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, a estabilidade dos átomos: todos esses fenômenos resistiam às explicações clássicas. A proposta de Max Planck, em 1900, de que a energia era emitida em “quanta” discretos, foi inicialmente uma hipótese ad hoc, pensada mais como expediente matemático do que como descrição ontológica. No entanto, os anos seguintes mostraram que esses “quanta” de energia pareciam ser mais do que uma curiosidade: eles apontavam para uma estrutura fundamental da natureza que escapava aos esquemas tradicionais.
A publicação, em 1925, do artigo de Heisenberg sobre a “reinterpretação” dos conceitos cinemáticos e dinâmicos marcou um ponto de inflexão. Abandonando a ideia de órbitas eletrônicas bem definidas, Heisenberg propôs uma descrição puramente algébrica dos fenômenos atômicos, centrada em grandezas observáveis e em relações de transição entre estados. Essa abordagem — que culminaria na formulação matricial da mecânica quântica — substituía a representação visual (ou “intuível”) da trajetória por um formalismo que operava com probabilidades e quantidades não comutativas. Como o próprio Heisenberg reconheceu, tratava-se de uma ruptura com a tradição de representar a realidade de forma contínua e geométrica.
Essa nova forma de pensar trazia consigo um problema filosófico central: como representar um mundo físico que, em sua escala mais fundamental, parece resistir à representação intuitiva? A física clássica permitia, ao menos em princípio, que se imaginasse um mundo “lá fora”, isto é, exterior ao sujeito, composto por objetos dotados de propriedades determinadas, localizáveis no espaço-tempo. Já a mecânica quântica exigia que se abandonasse esse ideal. As entidades quânticas não possuem propriedades independentes do contexto experimental; não se pode falar de “posição” ou “momento” sem especificar as condições de medição.
Essa exigência de vinculação entre teoria, fenômeno e observador traz à tona o que Ernst Cassirer chamou de “crise da representação”: a ciência moderna, ao avançar em sua formalização, afasta-se cada vez mais da experiência sensível e da intuição direta, exigindo novas formas de simbolização. A mecânica quântica se insere plenamente nessa tendência, revelando uma fisicalidade que não se mostra, mas que se expressa — de maneira estatística, relacional e contextual. O problema da representação, aqui, não é apenas epistemológico: ele é também ontológico, pois nos obriga a repensar o próprio estatuto do real.
A partir desse ponto, o debate entre diferentes interpretações da mecânica quântica — com destaque para Bohr, Heisenberg, Schrödinger e Einstein — se transformará em um dos mais férteis e enigmáticos da história da ciência. É o que veremos na seção seguinte, centrada no princípio da complementaridade.
Bohr e o princípio da complementaridade: limites da representação e papel do observador
Entre os vários esforços para compreender a nova física, a proposta de Niels Bohr se destacou pela ambição filosófica e pela sutileza conceitual. Frente à impossibilidade de descrever os fenômenos quânticos por meio de imagens clássicas contínuas, Bohr desenvolveu uma nova categoria de pensamento: o princípio da complementaridade. Segundo ele, certas propriedades de um sistema quântico — como posição e momento, ou onda e partícula — são mutuamente excludentes no plano experimental, mas complementares no plano teórico. Cada uma dessas descrições é válida, mas somente em contextos específicos. Não é possível, portanto, esgotar o comportamento quântico em uma única representação totalizante. (Figura 1)

Figura 1. Niels Bohr
(Fonte: AB Lagrelius & Westphal. Reprodução)
A complementaridade não revela traços fundamentais da realidade em si, mas antes aponta para os limites humanos de representação — ou, mais precisamente, para as condições sob as quais podemos articular, por meio da linguagem, o sentido dos fenômenos. Como seres de linguagem, não temos acesso direto a uma “realidade última”; temos, sim, formas situadas de interação com o mundo, mediadas por estruturas simbólicas, dispositivos experimentais e contextos conceituais. A teoria quântica, nesse sentido, não nos oferece um espelho da natureza, mas organiza os modos possíveis de articulação do sentido da experiência física. Trata-se de um pensamento com forte ressonância kantiana ou transcendental: o conhecimento não é uma cópia da natureza, mas resultado da interação entre sujeito e objeto, sob condições específicas de observação e expressão.
Bohr sugere não haver fenômeno quântico até que ele seja observado. Isso significa que o que chamamos “fenômeno quântico” deve incluir, inseparavelmente, o sistema observado e o aparato de medição. Essa sua posição não deve ser identificada com um subjetivismo simplista: o ponto central é que não se pode falar de propriedades de um sistema quântico independentemente do contexto experimental. O ideal clássico de objetividade — entendido como descrição de um mundo “em si”, independente do sujeito cognoscente — precisa ser revisto. Em Bohr, a objetividade se redefine como a possibilidade de comunicação intersubjetiva dos resultados empíricos sob condições bem específicas.
“A emergência da mecânica quântica no início do século XX marcou uma ruptura profunda com os paradigmas da física clássica.”
Esse deslocamento exige também uma mudança no próprio estatuto da linguagem científica. Se antes se imaginava que a linguagem espelhava diretamente a estrutura do real, agora se reconhece que a linguagem — inclusive a matemática — atua como condição de possibilidade da experiência. A representação deixa de ser uma janela transparente para a realidade e passa a ser vista como uma mediação ativa, situada, histórica. Como Bohr enfatizava, a clareza conceitual requer atenção constante à linguagem ordinária e às suas ambiguidades, pois é nela que se ancora a interpretação dos fenômenos físicos.
Nesse horizonte, o princípio da complementaridade nos oferece mais do que um critério técnico: ele se transforma em uma chave filosófica para pensar os limites e as possibilidades do conhecimento científico. Como apontou Michel Bitbol, a mecânica quântica não nos diz o que o mundo é, mas regula as condições sob as quais podemos formular enunciados significativos sobre ele. Nesse sentido, a teoria não representa o real em si, mas estrutura como este pode ser experimentado e compreendido — sempre de modo parcial, relacional e dependente de contexto.
Esse gesto de recusar uma ontologia fechada em favor de uma epistemologia aberta é talvez uma das maiores contribuições filosóficas da mecânica quântica. Ele desloca o foco da busca por essências para a análise das condições da inteligibilidade. Em tempos de crise da racionalidade, esse modelo plural e relacional de conhecimento talvez tenha mais a nos ensinar do que supúnhamos há cem anos.
Einstein, Schrödinger e a resistência ao abandono da realidade objetiva
Se, para Bohr, a teoria quântica exige uma revisão profunda do papel do observador e do alcance da representação científica, outros físicos de sua geração manifestaram forte desconforto diante das consequências epistemológicas desse novo quadro. Entre os mais notórios críticos estavam Albert Einstein e Erwin Schrödinger, ambos profundamente comprometidos com o ideal de uma realidade física objetiva e com a possibilidade de descrever essa realidade de forma contínua e causal. (Figura 2)

Figura 2. Erwin Schrödinger
(Fonte: Nobel Foundation. Reprodução)
Einstein, em particular, nunca aceitou a ideia de que a mecânica quântica fosse uma teoria completa. Sua célebre frase “Deus não joga dados” expressa sua convicção de que o acaso, tal como aparece na interpretação probabilística dos processos quânticos, é somente uma marca de ignorância temporária, não um traço fundamental da natureza. Para ele, a indeterminação expressa nas equações quânticas devia resultar de variáveis ocultas ainda não conhecidas, e não de uma limitação intrínseca do conhecimento.
Essa posição foi sistematizada em 1935, no famoso artigo EPR (Einstein, Podolsky e Rosen), no qual se argumenta que, se a mecânica quântica estiver correta, então ela implica uma forma de “ação fantasmagórica à distância” (spooky action at a distance), contradizendo o princípio da localidade — um dos pilares da física clássica. Diante desse impasse, os autores concluem que a teoria quântica, embora empiricamente correta, deve ser incompleta.
De modo análogo, Schrödinger, mesmo sendo um dos fundadores da teoria quântica, manifestou preocupação com as implicações filosóficas da interpretação dominante. Seu célebre experimento mental do gato de Schrödinger — simultaneamente vivo e morto até que se abra a caixa — não pretendia afirmar essa situação paradoxal, mas criticar os limites da aplicação do formalismo quântico a sistemas macroscópicos. Para Schrödinger, algo parecia faltar na teoria, caso se recusasse a oferecer uma descrição objetiva da realidade física.
“A pluralidade de interpretações contemporâneas revela que, cem anos após sua formulação, a teoria continua a desafiar nossos marcos conceituais.”
Essas críticas ajudaram a manter vivo, ao longo do século XX, o ideal de uma ontologia científica robusta, segundo a qual a física deve descrever, e não apenas organizar, o mundo real. Embora Bohr tenha respondido a essas objeções enfatizando o papel do aparato experimental e da linguagem na constituição dos fenômenos, a tensão entre as abordagens persiste como um dos traços mais fecundos da filosofia da mecânica quântica.
A oposição entre realismo e epistemologia contextual não é, contudo, absoluta. Muitos filósofos e físicos contemporâneos propõem releituras da teoria quântica que escapam tanto do realismo ingênuo quanto do subjetivismo radical. As controvérsias entre Bohr, Einstein e Schrödinger lançaram as bases para um leque amplo de interpretações posteriores. A mecânica quântica, longe de ser uma teoria esgotada em sua formulação canônica, tornou-se um terreno fértil para novas abordagens. Entre elas, destaca-se a interpretação relacional de Carlo Rovelli, que reformula o conceito de estado quântico a partir das relações entre sistemas; o QBismo, de Christopher Fuchs e colaboradores, que propõe uma visão subjetiva das probabilidades quânticas como graus de crença do agente; a interpretação dos muitos mundos, de Hugh Everett, que evita o colapso da função de onda assumindo a ramificação contínua do universo; e as abordagens baseadas na decoerência, como as desenvolvidas por Zurek e outros, que investigam como a aparência clássica do mundo emerge da interação com o ambiente. Essas interpretações, muitas vezes incompatíveis entre si, refletem a pluralidade filosófica que a teoria quântica continua a suscitar — e que será objeto da próxima seção.
Filosofia quântica contemporânea: pluralismo interpretativo e os limites do conhecimento
A pluralidade de interpretações contemporâneas revela que, cem anos após sua formulação, a teoria continua a desafiar nossos marcos conceituais. O debate desloca-se do plano da simples previsão de resultados experimentais para uma reflexão mais ampla sobre o que significa conhecer, quem conhece e como o conhecimento é possível em um mundo quântico. Um dos pontos centrais de divergência permanece o estatuto da função de onda: ela descreve algo real, ainda que de maneira não clássica? Ou representa apenas o conhecimento (ou crença) de um observador sobre o sistema?
Essas correntes contemporâneas reabrem, sob novas luzes, o debate sobre os limites da representação científica. A pergunta não é mais apenas “como funciona a mecânica quântica?”, mas o que ela nos permite dizer sobre o mundo — e sobre nós mesmos. Aqui, retornam com força os pressupostos kantianos da filosofia da ciência: as condições de possibilidade da experiência, os limites do conhecimento, o papel da linguagem e da subjetividade.
Autores como Ernst Cassirer, já no início do século XX, buscaram articular uma filosofia das formas simbólicas capaz de dar conta da ciência moderna como uma expressão da liberdade humana e da criatividade da razão. Nessa linha, mais recentemente, Michel Bitbol propõe uma leitura transcendental e pragmática da teoria quântica, segundo a qual o formalismo quântico exprime não uma ontologia do real, mas os limites estruturais do nosso acesso ao mundo. Para Bitbol, a mecânica quântica revela algo sobre nós mesmos enquanto conhecedores, mais do que sobre objetos isolados da experiência.
É nessa tradição que se insere também a proposta que venho desenvolvendo, inspirada por essa herança kantiana e pelas tensões internas da própria física contemporânea. Ao considerar que somos seres de linguagem, cuja compreensão do mundo se dá sempre mediada por formas simbólicas e por práticas experimentais historicamente situadas, defendo que a mecânica quântica não deve ser lida como um espelho da realidade, mas como o traçado das fronteiras móveis do saber possível. O que ela nos ensina, mais que qualquer imagem definitiva do mundo, é a necessidade de pensar os limites — e de criar novos conceitos para seguir pensando.
Filosofia da mecânica quântica no Brasil: contribuições e caminhos próprios
A filosofia da mecânica quântica tem sido objeto de crescente interesse no Brasil, e é possível reconhecer, ao longo das últimas décadas, o surgimento de um campo próprio de reflexão que articula tradição filosófica, fundamentos da física e contextos históricos e culturais específicos.
Entre os principais nomes estão Décio Krause e Jonas R. B. Arenhart, que, inspirados por Newton da Costa, propõem, por meio de lógicas não-clássicas, uma ontologia quântica alternativa à identidade clássica, como no artigo “Indistinguibilidade, não reflexividade, ontologia e física quântica” (2012). Sílvio S. Chibeni, em “Aspectos da descrição física da realidade” (1997), examina o teorema de Bell e a interpretação causal de Bohm. Já Olival Freire Jr., referência no campo, analisa a trajetória de Bohm em “David Bohm e a controvérsia dos quanta” (1999) e, em “The Quantum Dissidents” (2015), estuda os “dissidentes” da interpretação dominante, com base em vasta pesquisa documental. Com Osvaldo Pessoa Jr. e Joan Lisa Bromberg, Freire organizou “Teoria quântica: estudos históricos e implicações culturais” (2010), vencedor do Prêmio Jabuti. Pessoa Jr. também é autor de “Conceitos de física quântica” (2006) e de estudos sobre experimentos fundamentais. A tradução de “A matéria roubada” (1995), de Michel Paty, teve impacto importante, especialmente por sua análise do teorema de Bell. Antonio Augusto Passos Videira, por sua vez, destaca-se pelos estudos sobre Heisenberg, ciência e estética. Com Puig (2020), interpreta a realidade científica como construção linguística e estética. Incluo aqui minha própria contribuição. Meu livro, publicado pela editora Hermann (2012) e premiado pela Academia de Ciências Morais e Políticas da França, busquei articular as interpretações da física quântica à filosofia transcendental kantiana. A versão brasileira foi lançada em 2022 pela Editora UFMG.
Essas trajetórias demonstram que a filosofia da mecânica quântica no Brasil não se limita a reproduzir debates internacionais, mas elabora caminhos próprios, originais e sofisticados, que dialogam com a história da ciência, a lógica, a epistemologia e a filosofia da linguagem. É importante ressaltar que muitos outros pesquisadores e pesquisadoras relevantes não puderam ser mencionados aqui, embora também contribuam de maneira significativa para esse campo em expansão.