Confira entrevista com Eliane Superti, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba
Educação, ciência e tecnologia são imprescindíveis para o enfrentamento dos grandes desafios contemporâneos da humanidade (crise climática, degradação ambiental, desenvolvimento sustentável, fome, miséria e água potável, entre outros). Desta forma, pensar um sistema nacional que integre os três setores teria o potencial para promover e amplificar ações para enfrentamento dos desafios do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Um Sistema Nacional de Educação Superior, Ciência e Tecnologia poderia promover, amplificar, articular os agentes e as ações e conferir sustentabilidade às práticas sociais fundamentais da sociedade moderna. Isso é o que defende Eliane Superti, professora do Departamento de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais (PPGPCRI) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Para ela, quando aliado às demandas das camadas populares, esse desafio ganha significativa amplitude. “A ação política de construção desse sistema pode potencializar nossas capacidades de formar, de construir esse desenvolvimento socialmente justo, de colocá-lo a favor do desenvolvimento sustentável”, afirma. A ex-reitora da Universidade Federal do Amapá (Unifap, 2014-2018) e avaliadora de cursos de graduação e instituições do banco BASIS/MEC afirma que a qualidade do ensino de graduação está associada à construção do conhecimento e isso envolve a pesquisa: “precisamos garantir que a investigação científica faça parte das instituições de ensino superior, que estejam presentes na formação dos estudantes e como base de construção dos conhecimentos”. Desta forma, a expansão universitária ocorrida no início dos anos 2000, assim como as ações afirmativas que contribuíram para que camadas antes excluídas desse meio (negros, indígenas, estudantes do ensino público, etc.) pudessem começar a fazer parte dele, foram fundamentais para elevar o patamar das universidades públicas e da produção de conhecimento. Esse novo patamar colocou pesquisa, inovação e tecnologia como estratégia importante para o aumento da produtividade e desenvolvimento socioeconômico. “A universidade não pode ser uma ilha: a universidade tem que estar integrada, e ela precisa fazer essa integração permitindo que a construção do conhecimento dentro dela dialogue com a sociedade”.
Confira a entrevista completa!
Ciência Cultura – O Brasil precisa de um Sistema Nacional de Educação Superior, Ciência e Tecnologia? Por quê?
Eliane Superti – Escrevi um artigo para a Ciência & Cultura que era exatamente uma provocação para essa ideia da formação do Sistema Nacional de Educação Superior, Ciência e Tecnologia. Quando atuei como relatora do grupo de trabalho (GT-EDSUP) criado pela Câmara dos Deputados para acompanhar e avaliar o sistema universitário brasileiro, que foi uma comissão de apoio ao presidente da Câmara, que na época era o Rodrigo Maia, essa era uma discussão que já estava presente, que já estava colocada, não só por nós da comissão, que éramos os reitores das universidades, mas também as associações profissionais e também das instituições privadas e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), também presente nesse diálogo. Existia muita divergência, mas todos confluíam por uma resposta bastante consensual com relação a essa necessidade. Então, sem dúvida, sim, nós precisamos muito do Sistema Nacional de Educação Superior, Ciência e Tecnologia, porque é fundamental. É preciso integrar, coordenar, regular e financiar de forma sistêmica, ou seja, compreendendo as conexões e as interdependências entre educação superior, a ciência e a tecnologia, para que elas cumpram o papel que a sociedade espera delas. Mas como definir o papel que a sociedade espera da ciência, da educação superior e da tecnologia? Acredito que buscando articular e entender essa resposta, entendemos que naquele momento, era preciso procurar aquilo que está já consolidado em documentos que refletem, ou pelo menos deveriam, refletir esse pensamento da sociedade sobre a sua educação. Então buscamos esse apoio na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). E quando você vai para a LDB procurar entender quais são as finalidades do ensino superior, esse entrelaçamento entre educação superior, ciência e tecnologia está presente e fica evidente nas finalidades que estão colocadas. Aliás, uma das finalidades é o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Bom, para fazer isso, sem dúvida nenhuma, precisamos qualificar o ensino superior, planejando de maneira sistêmica, ou seja, considerando todas as suas vertentes. Tem outras implicações necessárias para reflexão desse sistema, porque se queremos, e se ele é necessário — e sim, ele é necessário — é preciso também ter claro que lógicas muito fortes do mercado estão presentes no ensino superior, principalmente no ensino superior privado. Quando pegamos as estatísticas de análise do ensino superior privado e vê que um a cada dez alunos saem de cursos com os índices mais baixos de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), e que seis em cada dez estudantes estão nos principais grupos privados de educação, fica claro que existe uma colonização. Este é um termo usado por pesquisadores do Sou_Ciência, pois há uma colonização da lógica de mercado no ensino superior. E o que isso significa? Significa que se o foco é ter o lucro com a graduação, você deixa de fora justamente a integração com a ciência e com a tecnologia. E como percebemos isso? Ora, 75% dos nossos estudantes de graduação estão nas instituições privadas, mas apenas 18% dessas instituições têm cursos de mestrado e doutorado, ou seja, elas não se interessam ou se interessam muito pouco em participar do esforço da pós-graduação, enquanto o interesse pela graduação e pelo lucro da graduação está muito mais presente nessa lógica das instituições privadas. Isso é um dos motivos pelo quais precisamos muito desse sistema, porque é preciso pensar em conjunto, pensar as várias vertentes, pensar em conjunto as suas missões e o seu papel e estabelecer elementos básicos para termos uma formação qualificada no ensino superior. Então precisamos de um Sistema Nacional de Educação Superior de Ciência e Tecnologia que nos permita articular arranjos institucionais que potencialize essa articulação entre investigação científica, produção da ciência nacional e inovação. E é preciso criar esse sistema e que ele potencialize a inovação, aprofundando o relacionamento entre a universidade e o setor produtivo, que ainda é um debate nas universidades, mas que, sem dúvida, tem um potencial de produzir a flexibilização das fronteiras, é verdade, mas também de produzir inovações que beneficiem a sociedade.
“É preciso integrar, coordenar, regular e financiar de forma sistêmica, ou seja, compreendendo as conexões e as interdependências entre educação superior, a ciência e a tecnologia, para que elas cumpram o papel que a sociedade espera delas.”
C&C – Qual o papel desse sistema para a inovação e como isso pode beneficiar a sociedade?
ES – Quando digo flexibilização das fronteiras, não estou dizendo que as instituições precisam perder as suas características ou abrir mão de suas lógicas específicas, isso não pode acontecer. Se o ensino superior e a ciência tiverem focado única e especificamente nas lógicas de mercado, a gente perde a relação com a sociedade, essa relação mediada e que nos garante o espírito crítico e inovativo. Então não se trata de colocar a ciência universidade para produzir tecnologia para o mercado lucrativo, mas de promover a integração entre esses espaços para que ambos possam ganhar com isso. Estudos bastante recentes sobre essa relação entre universidade e setor produtivo já comprovaram que é justamente nas trocas entre os setores que principalmente a inovação acontece. E essa inovação tem o potencial de fazer o enfrentamento de outra grande demanda, e que o Sistema Nacional de Educação Superior Ciência e Tecnologia também pode ajudar a dar respostas, que é combater ou que é enfrentar as grandes desigualdades do ponto de vista da formação da pós-graduação, e as assimetrias regionais. É preciso lembrar que na região Norte as universidades federais são responsáveis por 85,2% dos mestrados e doutorados e na região nordeste 73,6% estão nas universidades. Se potencializamos a capacidade das universidades desse relacionamento com o setor produtivo, somando ali capacidade de construção científica e de inovação, também permitimos que essas assimetrias possam ser enfrentadas de uma forma a integrar esforços e não a fazer ações isoladas. O que precisamos então reconhecer? Diante da necessidade que temos dessa formação do Sistema Nacional de Ensino Superior de Ciência e Tecnologia, que não vamos, ou que nenhuma ciência e tecnologia, por si só, vai gerar desenvolvimento socialmente justo. Mas isso piora quando eles são desarticulados. Por outro lado, a ação política de construção de um sistema pode potencializar nossas capacidades de formar, de construir esse desenvolvimento socialmente justo, de colocá-lo a favor do desenvolvimento sustentável e ainda fazer com que seja possível, de fato, construir mecanismos de articulação entre setores que hoje, embora interdependentes, são fragmentados e fazem esse enfrentamento de maneira desarticulada. Quando pensamos nisso, no enfrentamento dos nossos grandes problemas com relação à educação básica, que é a extensão, aí então a construção desse sistema de educação superior, ciência e tecnologia ganha ainda mais força. Foi pela extensão, principalmente, que os movimentos sociais adentraram a universidade e colocaram nas nossas pautas, na pauta da discussão das universidades, o necessário enfrentamento da escuta, o necessário enfrentamento da ausência de diversidade nos bancos das universidades.
C&C – Como instituir esse Sistema Nacional de Educação Superior, Ciência e Tecnologia?
ES – O ensino superior no Brasil se faz nas instituições públicas e também nas privadas, que são a maioria na graduação, das universidades e das instituições não universitárias. Isso significa que precisamos reconhecer e valorizar os diferentes papéis institucionais de cada uma dessas vertentes e os diferentes contextos de formação também, para não perdermos potencial. Às vezes, uma universidade pequena em uma em cidade na Amazônia pode representar muito para a formação daqueles jovens e para o desenvolvimento local. Então, não podemos desperdiçar esse potencial. Por isso é preciso pensar de forma coordenada, integrada. Isso significa que é preciso garantir que, além dessa coordenação, que a regulação também seja feita, observando aspectos fundamentais do processo de formação, e que conduza a esse espírito científico e pensamento reflexivo tão necessário para que se forme uma sociedade que combata, por exemplo, a desinformação. Aí, quando pensamos em como se dá esse processo de formação, fica evidente que precisamos, nos ambientes de formação superior, ter a pesquisa. Não podemos imaginar que teremos pesquisa de ponta em todas as instituições. Mas precisamos garantir que a investigação científica faça parte das instituições de ensino superior, que estejam presentes na formação dos estudantes e como base de construção dos conhecimentos. E para que isso aconteça, nós precisamos pensar o sistema integradamente. É preciso trazer a ciência e a sua produção também no âmbito da graduação, mesmo nas instituições cuja missão não seja produzir, não esteja vinculada à pós-graduação e, portanto, a produzir ciência de ponta, mas fazer com que tenhamos, em todas as instituições do ensino superior, a presença da formação do espírito científico. Ou seja, formando então esse espírito científico e cultivando essa necessidade de formar os jovens considerando o espírito investigativo. Isso significa combater necessariamente o analfabetismo científico. Além disso, um dos desafios de coordenação de políticas públicas para esses setores, de articulação e de diálogo entre os setores, de diálogo, é o financiamento. Este é um desafio que está sempre na pauta, está sempre na ordem do dia, e não tem como fugir. Você não pode falar disso sem falar do financiamento, porque a fonte de financiamento mais significativa dos sistemas de ciência pública no mundo todo é o financiamento público. Apesar da relevância do financiamento privado, ele está pautado principalmente no financiamento público. E precisamos garantir que tenhamos um financiamento estável e que ele cumpra essencialmente as necessidades das áreas de conhecimento. Não conseguiremos construir um sistema se não tivermos essa constância, se esse financiamento for algo sempre volátil, sempre incerto. Se pretendemos ter uma ciência soberana e um sistema de ensino capaz de dar respostas à altura para os nossos desafios, não vejo outro caminho senão construímos, de fato, esse Sistema Nacional de Educação Superior, Ciência e Tecnologia.
“A inclusão de mulheres, de grupos outrora excluídos da pesquisa, traz outras perspectivas e garante que as pesquisas abordem questões importantes e que impactam positivamente a vida das pessoas.”
C&C – Como a comunicação, especialmente a divulgação científica, pode ser uma aliada nesse processo?
ES – Se tem uma coisa que a aprendemos durante o período fortemente marcado pelo negacionismo da ciência no último governo, é que não somos eficientes em nos comunicar com a sociedade. Temos muitas dificuldades em fazer a sociedade entender a produção do conhecimento, o quanto isso de fato está presente no dia a dia de cada um de nós, cidadãos, e o quanto isso é importante para todos. Precisamos melhorar a qualidade da nossa comunicação com a sociedade. A universidade não pode ser uma ilha: a universidade tem que estar integrada, e ela precisa fazer essa integração permitindo que a construção do conhecimento dentro dela dialogue com a sociedade. E aí a extensão tem é um processo importante. Não podemos mais pensar a pesquisa para dentro, precisamos pensar a pesquisa “extensionada”, a pesquisa que dialoga com o outro, que dialoga com a sociedade, que leva e traz conhecimentos na construção em cooperação. Ou então, sempre que as crises orçamentárias vierem, ficaremos gritando para nós mesmos, sem conseguir o apoio da sociedade para as grandes demandas que a universidade tem e para aquilo que ela é capaz de produzir de ganhos de qualidade de vida, de ganhos de democracia e de desenvolvimento social.
C&C – No início dos anos 2000, o Brasil passou por uma expansão universitária por todo o território. Como isso impactou na inclusão de alunos de diferentes origens e etnias?
ES – Sim, a universidade se transformou em uma universidade mais inclusiva. Sim, nós tivemos grande expansão universitária, e é preciso reconhecer o quanto essa expansão significou para a inclusão. Mas ainda precisamos ter clareza de que é pouco. Precisamos avançar mais. Não alcançamos as metas que, como sociedade, determinamos no Programa Nacional da Educação (PNE). Não fizemos a inserção de jovens de 18 a 24 anos, na dimensão que gostaríamos que tivesse sido feito e que estava na nossa política nacional. E, de novo, quando falamos de educação, estamos falando da sociedade, de projetos de sociedade que estamos construindo. Um dos elementos fundamentais para se discutir o acesso ao ensino superior é discutir a desigualdade econômica e social. Temos uma sociedade extremamente desigual e isso reflete na capacidade de acessar o ensino superior, assim como os desafios que existem no ensino fundamental e médio. Porque quando você tem escolas pouco estruturadas, sem acesso à internet, com dificuldades no processo de formação da educação básica, você tem jovens com muito mais dificuldade de acessar o ensino superior. Então essas coisas estão vinculadas. Pensar educação é pensar educação em todos os seus níveis, ainda que você respeite as suas singularidades. Mas o acesso é algo que ainda temos que discutir, pois isso envolve o debate do enfrentamento da desigualdade econômica e social e da qualificação da educação básica. E se vamos debater essas dificuldades, apontaremos que isso ainda é um desafio, não podemos deixar de fora a formação docente. Um país onde a formação docente se dá principalmente na educação a distância, em que parte dela, pelas avaliações feitas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), são sofríveis. Então, precisamos pensar muito bem na forma como qualificaremos a educação básica. Precisamos de um debate sério sobre isso, de como fazer esse enfrentamento. Não é dizer que a educação à distância não é capaz de produzir qualidade, mas é dizer que precisamos ter certeza de que essa educação está formando os nossos professores com a qualidade, com o espírito investigativo, necessários para termos professores preparados para enfrentar os desafios da educação básica, que são enormes. Mas também quando pensamos na universidade, não podemos mais imaginar que as propostas pedagógicas das universidades estão adequadas aos enfrentamentos que temos hoje em sala de aula. Temos uma geração extremamente tecnológica, que faz uso da tecnologia no seu processo de aprendizagem, e aulas que ainda são formadas no modelo de décadas atrás, de projetos pedagógicos que ainda não trabalham com percursos formativos flexíveis, que não abre espaço para o uso dessas inovações. Precisamos pensar na universidade do futuro, que universidade é essa que queremos integrar da ciência e tecnologia. E, de novo, se vamos falar dos desafios do ensino superior, não tem como fugir de discutir o financiamento. Não podemos ficar ao sabor de governos que consideram o ensino superior como prioridade ou não. Precisamos de políticas que sejam executadas, de política de Estado. Aí entra a questão: até que ponto a nossa sociedade, a sociedade brasileira, de fato, entende a formação de seus jovens, a formação no ensino superior como prioridade, para conseguirmos ter uma ciência soberana, para conseguirmos, de fato, construir um cenário de um futuro que nos permita ter uma sociedade mais justa?
“A cooperação internacional tem sido potente em propor políticas públicas que nos permitam pensar estratégias de desenvolvimento sustentável que efetivamente consigam equilibrar as cadeias.”
C&C – A diversidade é crucial para o avanço da ciência. Como a inclusão de diferentes perspectivas, incluindo a presença de mulheres, afeta a qualidade e amplitude das pesquisas?
ES – Acredito que a diversidade desempenha um papel fundamental no avanço da ciência. Porque quando incluímos os que estão “de fora”, quando se abre espaço para construção conjunta, é que você percebe o quanto o escopo crítico da ciência se amplia e a sua capacidade de produzir respostas aos problemas sociais também. Então, a inclusão de diferentes vozes estimula o questionamento e a reflexão crítica. Quando as mulheres passam a estar mais presentes no campo científico, quando você traz grupos, outrora excluídos da pós-graduação, para participar das discussões, para a produção da ciência, você revela o quanto a ciência ainda é majoritariamente masculina e ocidental, o quanto ainda se predomina a lógica, patriarcal, ocidental. Mas você também coloca outras perspectivas e o confronto entre elas, e isso é muito importante para a construção da ciência. Sempre costumo frisar que precisamos reconhecer os fundamentos ocidentais nos quais estão baseados nossa experiência de ciência, porque quando nos damos conta de que o nosso legado é um legado branco, ocidental e masculino, começamos a entender porque não conseguimos explicar todas as realidades, porque temos tanta dificuldade de compreender e reconhecer realidades distintas da nossa, como, por exemplo, os conhecimentos tradicionais dos povos originários, de populações quilombolas, de populações ribeirinhas. Precisamos ter clareza que entender a desigualdade de gênero, de raça e de etnia, no fazer científico, é assumir que a nossa ciência deixou esse grupo de fora, que tivemos dificuldades em fazer esse processo, inclusive, que a nossa ciência não é neutra, que ela precisa ser repensada, que os seus elementos precisam ser confrontados, mas que somos capazes disso. Nós somos capazes de produzir uma radicalização democrática no campo epistemológico. E isso é uma oportunidade muito importante do processo de inclusão, porque nos permite desconstruir e reinterpretar nosso legado científico. Isso pode promover transformações muito significativas e potencializar muito a nossa capacidade de produção do conhecimento, porque ao fazer isso descolonizamos a própria formação superior, a produção do conhecimento científico, e conseguimos colocar como um elemento de base da produção da ciência a lógica democrática, que não necessariamente esteve presente na formação científica. A inclusão de mulheres, de grupos outrora excluídos da pesquisa traz outras perspectivas e garante que as pesquisas abordem questões importantes e que impactam positivamente a vida das pessoas. E acredito que essa é a grande contribuição que precisamos promover no campo científico, e vem sendo promovido. Se você pensar, a universidade, de 2010 para cá, é radical a transformação do corpo discente. A presença de populações tradicionais em cursos específicos focados para eles, como educação intercultural indígena, educação quilombola, formação no campo, a presença de populações e jovens pretos e pardos na universidade, a presença de estudantes em condições de vulnerabilidade, portanto, de famílias que estão até um salário mínimo de renda per capita, esses elementos trouxeram para os bancos da universidade a necessidade que a universidade se pensasse e se reestruturasse. E isso traz também desafios para a ciência, porque esta mesma população já chegou à pós-graduação, e nos instiga a pensar como promoveremos essa reinterpretação do nosso legado científico. Porque esses jovens e a inclusão social traz para o campo da pesquisa elementos que outrora não estavam presentes, porque simplesmente eles estavam excluídos do processo de se fazer ciência.
C&C – Como mulher atuante na academia, quais são os desafios e conquistas que você destacaria em sua trajetória, e como percebe a representação das mulheres nas áreas de Relações Internacionais e Ciência Política?
ES – Minha atuação na academia sempre teve muito dividida, entre a administração — fui diretora acadêmica, pró-reitora, reitora — e o fazer docente universitário, que envolve as atividades de ensino, pesquisa e extensão. E nesse trilhar, na construção dessa trajetória, alguns desafios sempre estiveram presentes. Acredito que não é algo só da minha história, mas da história das mulheres no meio acadêmico. Então acho que podemos colocar isso como desafios que estão colocados para todas nós. E entre eles, é claro que está a desigualdade de gênero. Nós, mulheres, ainda enfrentamos essa desigualdade para ocupar os cargos de liderança, por exemplo. Fui a primeira reitora eleita da Universidade Federal do Amapá (Unifap). E quando era reitora, não éramos a maioria na Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) — não era nem equilibrado, nem 50% a 50%. E nós somos 50%. A presença das mulheres na universidade hoje é muito intensa, mas nós não somos as lideranças. Então essa desigualdade de gênero sempre esteve colocada para nós. Eu, na minha trajetória, enfrentei a proposta, por exemplo, de ocupar cargos no ensino superior, com um salário menor do que homens na mesma condição e com a mesma formação. E isso ainda está presente hoje. Temos uma importante política hoje de enfrentamento dessa situação, política corajosa do atual governo de colocar a necessidade de igualdade, mas que o setor produtivo já vem reagindo a isso. Então, o que justifica pagar menos para uma mulher com a mesma formação? Isso é preconceito, é a desigualdade de gênero ainda mantida na nossa sociedade. Questionamentos surgem quanto à sua capacidade de gestão, por você ser mulher. Como a maioria dos cargos de liderança estão sob o comando de homens, quando a mulher exerce esse papel, o que se exige dela é que tenha o mesmo perfil, que faça gestão do mesmo jeito. Quando uma mulher se propõe a modelos diferenciados, surge o questionamento da capacidade de fazer gestão. Isso aconteceu quando eu assumi como pró-reitora de graduação na universidade, era um ambiente bastante masculino com um forte receio de que “será que uma mulher é capaz de fazer aquilo tudo que precisamos fazer?”. Os vieses, os estereótipos estão presentes e eu passei por isso também. Até o questionamento da autoridade, mesmo estando investida do cargo, por você ser mulher, está presente. Essa situação e esses desafios estão dados a todas nós. É importante lembrar que nós, mulheres, somos a maioria nas ciências humanas, mas quando verificamos os dados sobre publicação, por exemplo, os mais citados são os homens. Os mais alto cargos e o ápice da carreira nas ciências sociais, onde nós mulheres somos a maioria, e especialmente na ciência política, são dos homens. Dentro da universidade, nós temos a presença de todos os preconceitos, estereótipos da sociedade. Ela não está apartada, ela faz parte do contexto social. As discriminações, os preconceitos estão presentes lá também. Temos conquistas e temos que comemorar isso. Temos o aumento da representatividade, nós mulheres estamos mais presentes no campo científico, nos cargos de liderança, mas ainda não está equitativo. Temos mais mulheres ingressando no programa de pós-graduação, obtendo títulos de mestrado e doutorado, mas isso também depende da área. Nós mulheres hoje temos pesquisas extremamente relevantes no campo das relações internacionais e da ciência política, temos contribuído muito significativamente com abordagens inovadoras, principalmente com a perspectiva decolonial, com questões de gênero, segurança e direitos humanos, a participação tem sido bastante marcada ali com estudos de grande impacto. E vejo também como muito importante a questão da formação das redes de apoio. Afinal, nós produzimos conhecimento sobre quase tudo, assim como os homens o fazem. Então precisamos marcar posição, dizer: “nós temos esse espaço e nós vamos garantir que esse espaço seja preenchido pela presença das mulheres no debate científico”. Então, essa formação de redes de apoio a mulheres pesquisadoras é uma experiência extremamente importante e que tem um papel fundamental para superar os desafios e promover mudanças.
C&C – No contexto das relações internacionais, como suas pesquisas abordam questões contemporâneas, como globalização, diplomacia e cooperação internacional?
ES – Trabalho com cadeias globais de valor, na verdade, trabalho com a cadeia global de valor do açaí, e a globalização é o pano de fundo da configuração contemporânea dessas cadeias globais, e não é diferente para a cadeia do açaí. Um dos desafios que estão colocados nesse cenário da própria globalização, da articulação dessas cadeias, é que vemos hoje a transformação de um alimento, de comida tradicional de populações amazônicas, de ribeirinhos, quilombolas, povos indígenas, de populações que migraram do campo para a cidade e que são populações empobrecidas, que estão nas camadas mais subalternizadas da população, que sempre tiveram esse alimento como base da sua alimentação, sendo transformado paulatinamente em um commodity muito lucrativo. Me assustou bastante as notícias últimas do Pará que este alimento tradicional, que é principalmente dessas populações mais empobrecidas, um litro estava custando cerca de R$ 30 reais, ficando evidente a impossibilidade dessas populações de continuarem consumindo costumeiramente esse produto. Obviamente isso tem, sim, a lógica da cadeia, a lógica do processo de globalização. Essas cadeias de valor interligam atores distintos, de diferentes regiões, ao redor do globo, que vão desde pequenos produtores familiares, o extrativista, que está na floresta, que colhe, que planta, que maneja o açaí, passando por empresas de capital multinacional, atingindo consumidores nas mais variadas escalas. Os interesses que impulsionam essa cadeia, que encurtam as distâncias, que redefinem acordos e compromissos, que estabelecem os fluxos comerciais e de transporte, eles também se organizam para distribuir o poder ao longo dessa cadeia. E essa distribuição de poder se dá de maneira desequilibrada. Ou seja, não são apenas as comunidades locais que estão deixando de conseguir consumir o açaí, mas também os produtores na base, principalmente os produtores de base comunitária, em função das características da globalização econômica, da forma desequilibrada da distribuição do poder nessas cadeias. O que vemos no âmbito das relações internacionais e no âmbito das políticas públicas é, primeiro, que as políticas públicas podem empoderar comunidades e construir alternativas de mercados mais sustentáveis e equilibrados. Mas essa é uma potencialidade que é uma construção política. A construção dessas políticas públicas que podem empoderar as comunidades precisam ser mediadas para sua construção. Ela precisa da academia, que discutirá essa cadeia, que proporá as saídas. E quando optamos por empoderar as comunidades, por fazer co-construção de uma pesquisa extensionada que abre o debate e evidencia as ferramentas de construção da política pública, estamos colocando essas comunidades e os movimentos sociais a favor da defesa dos seus interesses em uma arena que é desigual. Então, existem potencialidades para o enfrentamento dos muitos desafios de desenvolvimento sustentável? Sim, a política pública é uma delas, mas não é qualquer política pública. Ou seja, o monocultivo do açaí é um grande é desafio para a biodiversidade amazônica, porque hoje o açaí é um dos produtos que mais gera renda nessas comunidades, e elas sempre foram tradicionalmente vinculadas à proteção da floresta, mas se elas forem estimuladas à monocultura, perderemos vastas áreas ou importantes áreas de biodiversidade amazônica. Então, as políticas públicas têm potencial, mas não é qualquer política. E aí voltamos àquela história de ouvir o outro, de construir juntos. Se não empoderarmos as comunidades e não estivermos dispostos a ouvi-las, podemos ter políticas públicas que não atendam às necessidades e que não minimizem os desequilíbrios dessa cadeia, que já é uma cadeia global e que já traz aspectos de insustentabilidade, como, por exemplo, dos preços para as populações que tradicionalmente tinham esse alimento. Além disso, quando pensamos na cooperação internacional, é preciso lembrar que desde a década de 1980, a cooperação assumiu um papel crucial no debate sobre o desenvolvimento sustentável, questões ambientais, políticas públicas e meio ambiente. E o amadurecimento da Agenda 2030 e a criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a cooperação internacional tornou-se essencial para atingir essas metas. Então, os acordos internacionais somados aos instrumentos de ação comunitária e às diretrizes para o desenvolvimento sustentável podem nos ajudar a impulsionar políticas públicas capazes de construir mecanismos mais equilibrados de fomento de uma sócio-bioeconomia ou de uma sócio-bioeconomia amazônica. A cooperação internacional tem sido potente em propor políticas públicas que nos permitam pensar estratégias de desenvolvimento sustentável que efetivamente consigam equilibrar essas cadeias.
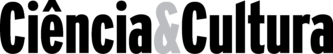





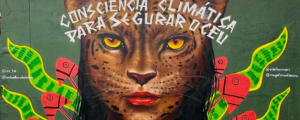



2 comments