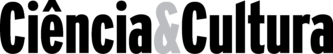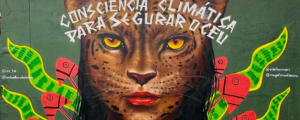Do combate à varíola à pandemia de Covid-19, a trajetória da vacinação no Brasil revela como o conhecimento científico, aliado à ação pública coordenada, salvou milhões de vidas — e ainda é essencial para enfrentar os desafios sanitários do presente e do futuro.
“Vacina salva vidas.” A frase, repetida com frequência por especialistas e autoridades de saúde pública, pode soar como slogan, mas é, sobretudo, uma constatação histórica. Ao longo do século XX e XXI, a vacinação foi uma das maiores conquistas da ciência em benefício da sociedade. No Brasil, essa história é marcada por avanços notáveis, mas também por resistência, disputas políticas e desafios de comunicação.
A imunização em larga escala mudou radicalmente o cenário epidemiológico brasileiro. Doenças como varíola, poliomielite e rubéola congênita, que ceifavam vidas e causavam incapacidades permanentes, foram eliminadas. Outras, como tétano neonatal, coqueluche, hepatite B e febre amarela, passaram a ser controladas com eficácia. Boa parte desse êxito se deve ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, e considerado até hoje uma referência mundial em saúde pública.

Figura 1. PNI
(Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebon/ Agência Brasil. Reprodução)
Uma construção histórica: da Revolta da Vacina à institucionalização do PNI
O uso de vacinas no Brasil começa no início do século XIX, com a chegada da vacina contra a varíola em 1804, trazida pelo marquês de Barbacena. Mas foi apenas no começo do século XX que o país deu os primeiros passos rumo a uma política de imunização coordenada. Em 1904, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, então à frente da Direção-Geral de Saúde Pública, propôs a vacinação obrigatória contra a varíola no Rio de Janeiro. O resultado foi explosivo: a Revolta da Vacina revelou a profunda desconfiança da população diante das autoridades sanitárias — num contexto de autoritarismo, pobreza e ausência de diálogo.
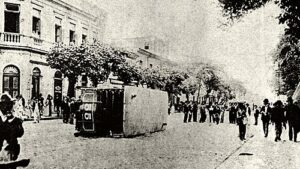
Figura 2. Revolta da Vacina
(Foto: Divulgação)
O episódio mostrou que campanhas de saúde pública não dependem apenas de ciência, mas também de confiança, comunicação e escuta social. Apesar do recuo momentâneo, a vacinação voltou a ganhar espaço. Em 1908, durante um surto de varíola, a população buscou voluntariamente a imunização, e a vacina passou a ser amplamente aceita. A doença seria erradicada do Brasil em 1971, e do mundo poucos anos depois.
O PNI e a era das campanhas massivas
Com a erradicação da varíola, cresceu a percepção de que a vacinação em massa era uma estratégia poderosa. Em 1973, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Imunizações, com o objetivo de coordenar e padronizar as ações de vacinação que, até então, eram esparsas e desorganizadas. Dois anos depois, o programa foi institucionalizado por meio de legislação federal, e começou a atuar de forma sistemática na oferta gratuita de vacinas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 1980, o Brasil iniciou sua primeira Campanha Nacional contra a Poliomielite, com o objetivo de vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um único dia. O esforço foi bem-sucedido: o último caso da doença ocorreu em 1989, na Paraíba. Em 1994, o Brasil e os demais países das Américas receberam da Organização Pan-Americana da Saúde o certificado de eliminação da poliomielite autóctone.
“A imunização em larga escala mudou radicalmente o cenário epidemiológico brasileiro.”
A partir daí, o PNI consolidou um modelo robusto, com metas ambiciosas de cobertura vacinal, campanhas regulares e um calendário nacional de imunização que abrange todas as faixas etárias — de recém-nascidos a idosos, passando por gestantes, adolescentes e povos indígenas. Hoje, o Brasil oferece 19 vacinas de rotina, todas gratuitas, e conta com os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para casos específicos.
Ciência, confiança e cidadania
O sucesso das campanhas de vacinação brasileiras é fruto de uma tríade: produção científica nacional, gestão pública eficiente e comunicação estratégica com a população. Instituições como a Fiocruz e o Instituto Butantan, criadas ainda no início do século XX, foram fundamentais não só para a produção de vacinas, mas também para a formação de profissionais e a pesquisa em saúde pública.
No entanto, o êxito da vacinação depende também de fatores não técnicos. A confiança social na ciência e nas instituições públicas é crucial para que as pessoas adiram às campanhas e mantenham seus esquemas vacinais em dia. Não se trata de obrigar fisicamente ninguém a se vacinar, mas de criar políticas públicas que incentivem a imunização por meio de condicionantes civis, como matrícula escolar, acesso a programas sociais e entrada em concursos públicos.
A obrigatoriedade vacinal no Brasil sempre esteve mais associada à promoção do bem coletivo do que a medidas coercitivas. Apesar do histórico bem-sucedido, o Brasil enfrenta novos desafios. Nos últimos anos, a cobertura vacinal tem oscilado, com quedas preocupantes em vacinas fundamentais como a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e a DTP (contra difteria, tétano e coqueluche). As razões são múltiplas: desinformação, fake news, desmonte de políticas públicas, problemas logísticos e, em alguns casos, desconfiança crescente nas vacinas.
“O sucesso das campanhas de vacinação brasileiras é fruto de uma tríade: produção científica nacional, gestão pública eficiente e comunicação estratégica com a população.”
A pandemia de Covid-19 escancarou esses problemas, mas também reacendeu a importância da ciência para salvar vidas. A rapidez com que vacinas eficazes foram desenvolvidas e aplicadas em tempo recorde é um testemunho da capacidade científica global — e da relevância de infraestruturas nacionais sólidas como a do PNI para garantir sua aplicação.
O futuro da imunização no Brasil
A vacinação no Brasil é, acima de tudo, uma história de construção coletiva: da ciência às políticas públicas, da produção nacional ao engajamento comunitário. O PNI, mesmo com todos os desafios, segue sendo um exemplo mundial de que é possível oferecer saúde de forma gratuita, universal e baseada em evidências.
Mas como toda conquista, ela exige cuidado contínuo, investimento e mobilização social. Preservar esse legado não é apenas uma tarefa técnica: é uma responsabilidade ética e política. Porque vacinas salvam vidas — e a ciência, quando aliada ao compromisso público, salva sociedades inteiras.