Da cultura pop às tradições visuais e sonoras, a arte popular traduz a crise climática em emoção, memória e urgência coletiva
A crise climática é, antes de tudo, uma crise de percepção. Embora os dados científicos sejam abundantes, precisos e cada vez mais alarmantes, eles nem sempre conseguem atravessar a distância entre gráficos e experiências cotidianas. É justamente nesse intervalo — entre o número e o sentimento — que a arte popular se torna uma ferramenta poderosa. Inspirada pelas mudanças climáticas e pelo aquecimento global, essa produção artística busca tornar o invisível palpável, transformar estatísticas em imagens, sons e narrativas capazes de afetar, inquietar e mobilizar. Mais do que ilustrar dados, a arte climática procura romper a tendência humana de valorizar apenas a experiência pessoal imediata, tornando a crise vívida, acessível e impossível de ignorar.
Ao longo das últimas décadas, artistas, cineastas, músicos, escritores e coletivos culturais passaram a incorporar as transformações ambientais em suas obras, revelando as dimensões sociais, políticas e afetivas do colapso climático. Em muitos casos, essas criações envolvem comunidades diretamente impactadas por secas, enchentes, incêndios ou pela destruição de seus territórios, aproximando arte e engajamento ambiental. Em outros, operam no campo da metáfora, do humor ou da distopia, expondo o absurdo do negacionismo e a fragilidade da ideia de progresso ilimitado. Cientistas e artistas não cientistas se encontram nesse território híbrido, frequentemente sobreposto à arte de dados, em que informação e sensibilidade caminham juntas.
Assistindo o clima
No cinema, essa aproximação se tornou especialmente visível. Grandes produções de Hollywood e animações populares ajudaram a inserir o tema climático no imaginário coletivo. “Interestelar” (2014), de Christopher Nolan, embora centrado na exploração espacial, parte de um cenário em que a Terra já não consegue sustentar a vida humana. A degradação ambiental, a escassez de alimentos e as tempestades de poeira não são apenas pano de fundo: são o motor narrativo que obriga a humanidade a buscar outro lar no cosmos. A escolha de mostrar um planeta exaurido, silenciosamente abandonado, reforça a ideia de que o colapso climático não acontece de forma súbita, mas como um desgaste contínuo, resultado de decisões acumuladas ao longo do tempo.
“Entre gráficos e experiências cotidianas, a arte transforma a crise climática em algo que se pode ver, ouvir e sentir.”
Já “Não Olhe para Cima” (2021) opta pelo caminho da sátira. Lançado em meio à pandemia, o filme escancarou, com humor ácido, os mecanismos de negação científica que também atravessam o debate climático. O cometa prestes a destruir a Terra funciona como uma alegoria transparente da emergência ambiental: mesmo diante de evidências irrefutáveis, interesses políticos, econômicos e midiáticos conseguem transformar a catástrofe em ruído. A recepção dividida da crítica contrasta com o impacto popular do filme, que rapidamente se tornou um ponto de referência cultural para discutir negacionismo e inação.
A animação “Wall-E” (2008) talvez seja uma das traduções mais delicadas — e devastadoras — da crise ambiental na cultura pop. Ao retratar um planeta coberto por lixo, abandonado por seus habitantes e habitado apenas por um pequeno robô solitário, o filme da Pixar aborda consumo excessivo, descarte inadequado e alienação tecnológica sem recorrer a discursos explícitos. A ausência quase total de diálogos nos primeiros minutos transforma imagens e sons em denúncia, reforçando a ideia de que o futuro climático pode ser silencioso, vazio e profundamente solitário.

Figura 1. Wall-E (Pixar. Divulgação)
A relação entre humanos e natureza também ocupa o centro de obras como “A Princesa Mononoke” (1997), de Hayao Miyazaki. A animação do Studio Ghibli se recusa a simplificar o conflito ambiental em termos maniqueístas. Ao mostrar deuses da floresta, comunidades humanas e forças industriais em tensão constante, o filme sugere que a crise ecológica é inseparável de escolhas sociais, culturais e econômicas. Não há vilões absolutos, apenas consequências de modelos de desenvolvimento que entram em choque com os limites da natureza.
Filmes-catástrofe como “O Dia Depois de Amanhã” (2004) apostam na espetacularização, imaginando um congelamento abrupto do planeta. Embora cientificamente exagerado, o longa ecoa um tema recorrente: a dificuldade de governos e instituições em levar a sério os alertas da ciência até que seja tarde demais. Já documentários como “Uma Verdade Inconveniente” (2006) abandonam a ficção e apostam na pedagogia direta, combinando palestras, dados e imagens impactantes para transformar o aquecimento global em uma questão moral e política.
No contexto brasileiro, produções como o webdocumentário “O Amanhã é Hoje” reforçam que a crise climática não é um problema distante ou futuro. Ao acompanhar pessoas em diferentes regiões do país lidando com secas, incêndios e ressacas, o filme evidencia que os impactos já moldam o cotidiano. Obras como “Xingu” e o curta “Céu Fumaça” ampliam esse olhar ao conectar a crise climática à luta indígena e à percepção das crianças, mostrando que as consequências ambientais atravessam gerações.
Escrevendo o clima
Na literatura, a arte climática assume múltiplas formas, do jornalismo narrativo à ficção, da cosmologia indígena à crítica econômica. Em “A espiral da morte”, Claudio Angelo combina reportagem, diário de viagem e ciência para mostrar como o derretimento do Ártico e da Antártida se conecta diretamente à vida em cidades brasileiras. O livro traduz a complexidade da ciência do clima sem suavizar seus impactos, construindo uma narrativa envolvente e inquietante.
Outras obras deslocam o centro do debate para epistemologias historicamente marginalizadas. “Umbigo do Mundo”, de Francy e Francisco Baniwa, e “O Espírito da Floresta”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, apresentam visões indígenas em que rios, árvores e humanos formam uma rede indissociável. “A Terra Dá, a Terra Quer”, de Antônio Bispo dos Santos, propõe uma leitura quilombola baseada na biointeração, questionando frontalmente o modelo desenvolvimentista dominante. Esses livros não apenas falam sobre mudanças climáticas: eles oferecem outras formas de imaginar o mundo.
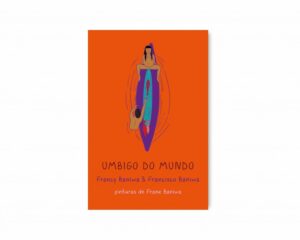
Figura 2. “Umbigo do Mundo” (Dantes Editora. Divulgação)
A ficção também se mostra um território fértil. Em “A Árvore Mais Sozinha do Mundo”, de Mariana Salomão Carrara, uma árvore narradora observa a degradação ambiental e suas reverberações afetivas. Em quadrinhos como “Heranças”, Raquel Teixeira mistura fantasia e memória ancestral para falar da Amazônia. Obras ensaísticas como “Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak, tensionam a própria noção de humanidade, sugerindo que a crise climática é resultado de uma separação artificial entre humanos e natureza.
Cantando o clima
Na música, a emergência climática ganha voz, ritmo e emoção. Paul McCartney, em “Despite Repeated Warnings”, soa como alguém cansado de alertar para sinais ignorados, mas ainda disposto a apostar na mudança coletiva. No Brasil, “Para Onde Vamos?”, interpretada por Arnaldo Antunes, Zélia Duncan e Zeca Baleiro, enumera queimadas, desmatamento e derretimento de geleiras, conectando a crise global ao engajamento local. Clássicos como “Sobradinho”, de Sá e Guarabyra, mostram que a preocupação ambiental já atravessava a música popular décadas antes de o termo “mudanças climáticas” se popularizar.
“Ao tornar dados emocionais e acessíveis, a arte popular ajuda a construir consciência onde a ciência sozinha não alcança.”
Canções internacionais como “¿Dónde jugarán los niños?”, do Maná, e “Feels Like Summer”, de Childish Gambino, utilizam a nostalgia e a leveza sonora para abordar perdas profundas: rios poluídos, verões extremos, animais desaparecendo. Billie Eilish, em “all the good girls go to hell”, abandona a sutileza e denuncia diretamente incêndios, elevação do nível do mar e a indiferença humana. Já “How Far I’ll Go”, cantada por Alessia Cara em “Moana”, conecta identidade, água e território, ressaltando a vulnerabilidade das comunidades indígenas e insulares diante da elevação dos oceanos.
Sentindo o clima
Nas artes plásticas e visuais, a crise climática se materializa de forma sensorial. Instalações como “Ice Watch”, de Olafur Eliasson, transportam blocos de gelo ártico para espaços urbanos, permitindo que o público toque e observe o derretimento em tempo real. Esculturas feitas de lixo por Bordalo II transformam resíduos em animais monumentais, enquanto fotografias que comparam geleiras ao longo do tempo expõem, sem necessidade de palavras, a velocidade da transformação planetária.
Artistas brasileiros têm ocupado um papel central nesse debate. Denilson Baniwa, em “Natureza Morta 1”, utiliza imagens de satélite para formar a silhueta de um pajé, denunciando o desmatamento e o colonialismo. Jaime Lauriano, ao substituir símbolos patrióticos por lama de rompimentos de barragens, conecta a ideia de progresso a tragédias ambientais concretas. Mari Nagem, em 41°C, transforma dados térmicos em alerta visual sobre a seca amazônica. Coletivos como o Instituto Maku-X e o Artivista Mairi levam murais às ruas, unindo arte, ativismo e saberes indígenas para falar diretamente com quem passa.

Figura 3. Natureza Morta 1 (Denilson Baniwa. Divulgação)
Ao atravessar cinema, literatura, música e artes visuais, a arte popular sobre mudanças climáticas cumpre um papel fundamental: ela não oferece soluções técnicas, mas constrói sentidos. Ao transformar dados em narrativas, números em imagens e alertas em emoção, essas obras ajudam a criar uma consciência ambiental que não depende apenas do entendimento racional, mas do envolvimento afetivo. Em um mundo saturado de informações, talvez seja a arte — em suas formas mais populares e acessíveis — que consiga, finalmente, fazer com que a crise climática seja sentida como aquilo que ela já é: uma experiência compartilhada, urgente e profundamente humana.
Capa. Coletivo Artivista Mairi.









