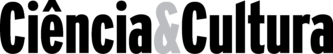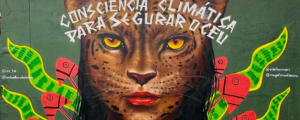Confira entrevista com Leticia Strehl, diretora da Editora da UFRGS
Desde os corredores silenciosos de uma escola até a direção de uma das editoras universitárias mais respeitadas do país, a trajetória de Leticia Strehl é uma verdadeira ode ao poder das bibliotecas como espaços vivos de construção coletiva do saber. Com mais de duas décadas de dedicação à Biblioteconomia e ao serviço público, ela tem sido uma voz incansável na defesa da colaboração entre instituições como chave para enfrentar os desafios que limitam o pleno acesso à informação no Brasil. “Mantém-se até hoje a reivindicação urgente por qualificação dos espaços de biblioteca, considerando sua importância central para os estudantes”, defende. Entre 2016 e 2024, esteve à frente da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenando tecnicamente um complexo sistema com 31 bibliotecas. Agora, como diretora da Editora da UFRGS, sua missão se volta para um novo e urgente horizonte: tornar a ciência mais aberta, acessível e compreensível para a sociedade. “O papel das bibliotecas e das editoras universitárias em um contexto de cortes orçamentários precisa ser marcado por um ativismo incansável sobre a importância do conhecimento na perspectiva social da promoção da cidadania, mas também na perspectiva econômica de desenvolvimento do país”, enfatiza a pesquisadora. Nesta entrevista, ela compartilha ideias, aprendizados e convicções forjadas ao longo de uma jornada guiada pela generosidade do conhecimento e pela crença inabalável no papel estratégico das bibliotecas para o futuro da ciência brasileira.
Ciência & Cultura – Com uma trajetória de 27 anos no Sistema de Bibliotecas da UFRGS e agora como diretora da editora da universidade, como você vê a evolução do acesso à informação científica no Brasil? Quais foram as maiores mudanças que presenciou nesse período?
Leticia Strehl – Tive o privilégio de presenciar o auge da transição tecnológica quando iniciei minha trajetória como bibliotecária da universidade no final dos anos 1990, ou seja, um pouco antes da popularização do acesso à internet e da ampla indexação de conteúdos digitais pelo Google. Entrei na UFRGS como bibliotecária no Instituto de Física — um dos maiores centros de pesquisa da área no país, conhecido também por sua rica coleção de periódicos —; lá, os pesquisadores acompanhavam com atenção a chegada dos novos fascículos impressos, víamos isso cotidianamente. Como mantínhamos centenas de assinaturas, havia uma renovação diária de nosso acervo. A máquina de cópias funcionava ininterruptamente, reproduzindo artigos. O barulho era insuportável no começo, mas se tornou imperceptível para mim com o tempo.
Com o Portal de Periódicos CAPES, tudo mudou. Os fascículos impressos pararam de chegar, e nosso trabalho em relação a esse tipo de documento transformou-se no auxílio aos pesquisadores para o acesso aos periódicos eletrônicos. A inconformidade com a ausência dos impressos foi sentida por uma parcela importante da comunidade, mas não por muito tempo. Logo os pesquisadores passaram a gostar dos incrementos trazidos pela tecnologia para revisar a literatura científica.
Nessa época, o foco dos serviços de aquisição e acesso passou a recair principalmente sobre os livros impressos. Além disso, concomitantemente, um novo serviço de acesso surgiu na biblioteca: com a emergência do Movimento de Acesso Aberto à Informação, a catalogação que fazíamos da produção intelectual de nossos pesquisadores passou a ser disponibilizada também em repositório institucional. A biblioteca tornou-se uma produtora de portais eletrônicos, não apenas uma usuária deles. O Lume, repositório institucional da UFRGS, é identificado em rankings internacionais como o terceiro maior repositório desse tipo no mundo, por exemplo.
No espaço da biblioteca, a frequência dos pesquisadores diminuiu muito, mas esta sempre foi apenas uma parcela da nossa comunidade usuária. Por essa razão, mantém-se até hoje a reivindicação urgente por qualificação dos espaços de biblioteca, considerando sua importância central para os estudantes. O conforto proporcionado por suas salas e equipamentos para estudo é parte importante da qualidade (ou precariedade) de sua vivência universitária.
O marco mais recente, vivido com grande impacto no funcionamento das bibliotecas, foi a pandemia de COVID-19. Segundo estatísticas da UFRGS, a preferência pelo acesso eletrônico se estende agora também ao livro. Algo que aconteceu, primeiro, pela necessidade imposta pelo cumprimento das medidas de isolamento social; depois, aparentemente, pela incorporação como hábito de leitura.
Entretanto, neste caso, há uma série de entraves para o efetivo acesso à informação, sendo o mais importante relacionado com a ausência de uma política pública nacional para contratação de plataformas de livros eletrônicos (mesmo com o excelente exemplo para periódicos do Portal CAPES). Para livros eletrônicos, principalmente os publicados em língua portuguesa, os investimentos dependem da valorização que cada instituição atribui às suas bibliotecas, uma percepção cujo peso e significado variam bastante entre instituições no Brasil.
A UFRGS investe em livros eletrônicos de forma bastante pioneira. Nessas condições, proporcionadas por uma boa infraestrutura de acesso, foi que percebemos a mudança de cultura em relação aos livros também no pós-pandemia. Atualmente, o empréstimo de livros impressos diminuiu drasticamente, e o acesso às plataformas mantém-se no mesmo patamar alto verificado no início das medidas de isolamento social.
Na minha percepção, esses elementos marcam as questões de acesso à informação nestes últimos 30 anos. Mas a popularização recente da inteligência artificial acaba de inaugurar um novo capítulo dessa história. Diante da dificuldade de objetivamente distinguir entre seus impactos reais no acesso à informação e as especulações sobre o assunto, encerro minhas observações sem mencionar a IA.
“É importante destacar ainda que as bibliotecas e as editoras universitárias têm o compromisso social de sensibilizar os pesquisadores para a importância da ampliação do diálogo científico.”
C&C – Sua formação em Educação em Ciências dialoga diretamente com seu trabalho em biblioteconomia. De que maneira a gestão da informação pode contribuir para a educação científica e para a formação de novos pesquisadores?
LS – Além da mudança no acesso ocorrida pela virtualização dos acervos, minha formação em Educação em Ciências me torna sensível às transformações que ultrapassam os aspectos técnicos do desenvolvimento e manutenção de infraestruturas de informação. Leva também à reflexão sobre os impactos da tecnologia na cultura da informação e na cidadania.
Quando a tecnologia se desenvolveu, ampliando sobremaneira o acesso à informação, muitos teóricos importantes previam que adentraríamos na Era do Conhecimento. As previsões se confirmaram em parte: é inegável que a tecnologia trouxe significativos avanços do conhecimento nas mais diversas áreas da ciência. Contudo, esses avanços não se traduziram, na mesma medida, em uma ampliação da percepção pública da ciência. As razões para isso são múltiplas, mas algumas me preocupam especialmente: a ultraespecialização das comunicações científicas, o descompasso entre o avanço do conhecimento e a formulação de políticas públicas com impacto real na vida das pessoas, e a ausência de regulação das plataformas digitais — que se consolidaram como uma lucrativa indústria da desinformação, com efeitos devastadores para a democracia e a saúde pública, entre outros. Com isso, a tecnologia fez florescer a Era do Conhecimento, mas também da Ignorância. E é nesse cenário que a gestão da informação se apresenta como campo estratégico: há a necessidade de construção de infraestruturas mais eficientes de recuperação, descoberta e acesso a informações confiáveis, mas também de realização de ações educacionais, culturais e científicas que promovam o uso da informação de forma crítica, ética e socialmente relevante. Nestes dois níveis (infraestrutura e cultura), o objetivo é o avanço científico em profunda associação ao desenvolvimento da cidadania e da percepção pública da ciência.
Na UFRGS, desenvolvemos um importante projeto de extensão para realizar atividades educativas de pesquisa e uso da informação científica, chamado Super 8. O Super 8 é um dos maiores projetos de extensão da universidade, que tem contribuído para a percepção da comunidade e do público em geral sobre a importância da informação científica. Além disso, ele tem ampliado a atuação das bibliotecas da UFRGS para além de seu espaço. Isso ocorre à medida que os bibliotecários, comprometidos com essa missão, levam atividades educativas às salas de aula, auditórios, laboratórios e salas virtuais para promover competências e ferramentas que auxiliam no desenvolvimento do conhecimento no ambiente desafiador da supercirculação de informações.
Em um nível amplo, é importante destacar ainda que as bibliotecas e as editoras universitárias têm o compromisso social de sensibilizar os pesquisadores para a importância da ampliação do diálogo científico, superando os valores definidos por indicadores de produtividade e impacto que se restringem às publicações. O diálogo ultraespecializado que tem se consolidado nesses parâmetros de avaliação da ciência tem suas contribuições para o florescimento da Era do Conhecimento, mas também da Ignorância. A Educação em Ciências tem me ajudado a pensar a indissociabilidade entre ciência e impacto social (não apenas científico).
C&C – Você acaba de assumir a direção da Editora da UFRGS. Quais são seus principais objetivos para a editora universitária? Como você pretende ampliar o alcance das publicações científicas e aproximá-las do público geral?
LS – É um grande desafio estabelecer linhas editoriais que congreguem excelência científica e capacidade de comunicação ampla — um desafio que persiste no modelo tradicional de divulgação dos resultados de pesquisa, mas que hoje pode ser enfrentado com os recursos trazidos pelo desenvolvimento do paradigma da ciência aberta.
Neste contexto, abrem-se outras frentes de atuação: a publicação e curadoria de dados de pesquisa em repositórios; o uso de preprints para disseminar e debater manuscritos antes da versão final com revisão por pares; e a incorporação de múltiplas mídias informacionais para a apresentação dos resultados (vídeos, áudios, infográficos).
Um dos desafios que estamos nos organizando para empreender é o projeto de repensar a publicação do livro exatamente à luz desses recursos. Desenvolver uma proposição editorial que identifique em que medida os repositórios podem ser complementares às publicações, permitindo que os textos e análises sejam escritos para facilitar a compreensão também por públicos não especializados.
Neste momento, estamos reconstituindo nosso Conselho Editorial na Editora da UFRGS em torno de um projeto que visa o aprofundamento do diálogo transdisciplinar, a conexão de saberes e a ciência acessível baseada em evidências. É uma meta ousada, difícil, mas vamos tentar.
“Em um setor tão negligenciado pelas políticas públicas, muitas vezes as lideranças se impõem como desafio máximo a representação de sua classe e não a transformação das condições de atuação com impacto social.”
C&C – Em um contexto de cortes orçamentários e desafios para a ciência brasileira, qual é o papel das bibliotecas e editoras universitárias na manutenção e democratização do conhecimento científico?
LS – O papel das bibliotecas e das editoras universitárias, em um contexto de cortes orçamentários, precisa ser marcado por um ativismo incansável sobre a importância do conhecimento na perspectiva social da promoção da cidadania, mas também na perspectiva econômica de desenvolvimento do país.
Esse ativismo não é apenas discursivo; depende da proposição de projetos e da realização de ações para efetivo impacto. Esses setores têm sido afetados sobremaneira pelos cortes orçamentários, exigindo de seus responsáveis uma gestão resiliente e criativa. Esses momentos se configuram como oportunidade de profunda aprendizagem, mas, sobretudo, como uma ameaça absurda, considerando a importância dessas instituições para o desenvolvimento científico, econômico, educacional e cultural do país.
Entretanto, neste nosso estado cíclico de avanços e retrocessos políticos, a importância social dos setores não é exatamente um fator determinante para investimentos por parte de uma parcela não desprezível de nossos governantes. O paradoxo é que é exatamente essa ausência de recursos adequados que reforça uma percepção pública de que bibliotecas e editoras estão perdendo suas funções com a proliferação de plataformas de informações digitais. E, na realidade, estão perdendo mesmo — mas isso ocorre exatamente por estarem mal equipadas.
É urgente o investimento em ciência, educação e cultura e, portanto, em bibliotecas e editoras. Contrariando o senso comum de que a tecnologia tudo resolve, é importante afirmar fortemente que as instituições responsáveis pela produção e acesso a informações são indispensáveis para combater os efeitos danosos da indústria da desinformação.
Por mais que os gestores tenham múltiplas competências para mitigar os efeitos dos cortes orçamentários, eles não são mágicos. Por isso, é necessário reafirmar o dever do Estado na produção e no acesso às coleções bibliográficas, o que implica investimento em sistemas robustos e serviços especializados para que as informações significativas e confiáveis alcancem visibilidade digital e tenham uso efetivo.
O que é inadmissível é atribuir as dificuldades que vivenciamos a um defeito atávico da população brasileira, que, como resultado de uma espécie de maldição, não gosta de ler, não gosta de estudar. O conhecimento das estruturas das bibliotecas públicas dos países desenvolvidos nos deixa estarrecidos — suas populações têm efetivamente acesso ao livro. Não é o caso do Brasil. As bibliotecas de escolas, bairros e até municípios, quando existem, costumam ter acesso precário à internet e uma coleção pouco atualizada e atrativa. Quem lê um livro que não lhe interessa?
Existe muito espaço para repensar a gestão de bibliotecas com os recursos que temos; nossa resiliência e criatividade são fonte de desenvolvimento de algumas habilidades importantes, mas não estamos encontrando espaço para sua implementação. Além de recursos, parece faltar vontade política e capacidade de articulação para a reivindicação. Aqui, me refiro mais às bibliotecas do que às editoras, por conhecimento mais profundo de causa.
Contudo, não há dúvida de que o investimento em bibliotecas e editoras universitárias é fundamental para que a tecnologia tenha impacto nas condições de existência com os benefícios associados à Era do Conhecimento, ao invés dos prejuízos da Era da Ignorância.
C&C – Como mulher em posição de liderança em um ambiente acadêmico, você já enfrentou desafios específicos relacionados a gênero? Que conselho daria para outras mulheres que desejam assumir cargos de gestão na área da ciência e educação?
LS – A Biblioteconomia é uma área de domínio feminino; seria de se supor que eu não enfrente desafios por preconceitos de gênero. Infelizmente, é uma pressuposição equivocada. Os discursos progressistas, às vezes, são acompanhados de práticas conservadoras, o que, pela minha experiência, é o caso do ramo em que atuo.
Em um setor tão negligenciado pelas políticas públicas, muitas vezes as lideranças se impõem como desafio máximo à representação de sua classe, e não à transformação das condições de atuação com impacto social. Apesar de importantes, os discursos e as lideranças representativas de classe não são suficientes para empreender projetos de inovação que contribuam para a equidade no acesso ao conhecimento em uma conjuntura de investimentos absolutamente desfavoráveis.
Esses projetos envolvem a gestão para a mudança e, portanto, uma disposição para mobilizar recursos em um contexto de incertezas (tudo pode dar errado) e para travar debates com alto risco de divergência. Duas condutas que não são esperadas das mulheres, cuja existência é frequentemente associada ao cuidado — e não à transformação social.
O meu conselho para outras mulheres é que naturalizem as divergências e abracem os projetos transcendentes que, por tanto tempo, foram de domínio masculino. Sugiro que assumam o risco de errar e vejam no contraditório uma oportunidade de aprendizagem permanente. Mas, principalmente, que busquem colaborações com pessoas também comprometidas com a ação transformadora. Essa é uma estratégia necessária para seu trabalho e fortalecimento: as pressões e os preconceitos enfrentados podem ser violentos.
A valorização recente do discurso em detrimento da prática, que me parece inserida em um conjunto de mudanças culturais promovidas por essa nova forma de estarmos no mundo — pelas redes sociais — reforça esse jogo de aparências. Mais do que representantes, precisamos de lideranças que empreendam mudanças, o que é sempre mais desafiador para uma mulher. É difícil, mas não impossível — sobretudo quando construímos redes de apoio consistentes.
“Bibliotecas e editoras universitárias têm um desafio histórico comum, agravado por condições contemporâneas. O desafio é a promoção da leitura.”
C&C – Olhando para o futuro, quais são as prioridades e inovações que você considera essenciais para bibliotecas e editoras universitárias no cenário brasileiro?
LS – Bibliotecas e editoras universitárias têm um desafio histórico comum, agravado por condições contemporâneas. O desafio é a promoção da leitura. Os agravantes são: a popularização do uso de áudios e vídeos como hábito exclusivo de informação e a substituição do pensamento pelos sistemas de inteligência artificial — condições tecnológicas que permitem a realização de certas tarefas que antes dependiam, em grande medida, do exercício dos neurônios da leitura.
Esses recursos tecnológicos, quando compreendidos no contexto político brasileiro, têm implicações alarmantes: nosso sistema educacional caracteriza-se por sua baixa qualidade. Não raro, os processos de aprendizagem são reduzidos à identificação de uma resposta certa para uma pergunta de múltipla escolha — um método rudimentar de avaliação, que dificilmente contribui para nortear processos significativos de descoberta do conhecimento. Assim, não é de surpreender que, entre os clientes fiéis da indústria da desinformação, encontrem-se pessoas altamente escolarizadas.
Da mesma forma como as características do sistema educacional impactam os processos de aprendizagem, os parâmetros que estruturam o sistema científico também são reveladores dos modos de produção de conhecimento. Nesse caso, percebe-se que o modelo produtivista, que consolidou o sistema científico nas últimas décadas, exige uma velocidade de publicação que, com frequência, resulta na produção de respostas para perguntas nem sempre relevantes.
No caso das bibliotecas, a prioridade continua sendo incontornável: criar e desenvolver bibliotecas com acervos significativos em escolas e bairros — um desafio que nunca superamos. A inovação, por sua vez, está na utilização de plataformas de serviços de biblioteca modernas, que permitam a construção de uma infraestrutura de uso comum por uma vasta rede de instituições. Nos países desenvolvidos, essa tecnologia já está sendo utilizada com essa finalidade, possibilitando uma gestão de dados colaborativa e enriquecida. Sistemas em código aberto, sem cobrança de licenças, permitem o uso em larga escala com sustentabilidade econômica. Seus padrões de registro bibliográfico possibilitam a conexão com múltiplos serviços de dados, superando os limites institucionais.
Esses chamados dados linkados tornam possível a integração dos registros bibliográficos em buscas realizadas em outras plataformas da internet e uma apresentação visualmente mais atrativa nos próprios catálogos, com recursos de recomendação. Os dados da biblioteca passam a ser visíveis além de seus próprios sistemas e se aproximam da experiência de descoberta de informação oferecida por plataformas como o Google.
A aplicação desse modelo em um país em desenvolvimento como o Brasil poderia cumprir ainda uma função estratégica para a formulação de políticas públicas para o setor. A inclusão, nesse sistema, de todas as escolas, municípios e bairros que se autodeclaram em censos como possuidores de bibliotecas permitiria mapear sua existência real. Teríamos, finalmente, uma ferramenta de diagnóstico que permitiria identificar lacunas e orientar investimentos para saná-las. Bibliotecas com livros interessantes e acessíveis têm alto potencial para ampliar a parcela leitora de nossa população. Com o exercício dos neurônios da leitura, os áudios, vídeos e sistemas de inteligência artificial poderão consolidar os processos de conhecimento — e não superficializá-los.
No caso das editoras, há também um espaço promissor de inovação, sobretudo no uso de repositórios digitais e conteúdos multimídia com vistas à promoção da integridade das evidências científicas e à comunicação com públicos mais amplos. No entanto, pessoalmente, acho que a prioridade requer uma iniciativa de outra natureza, que não apenas tecnológica: provocar a comunidade científica brasileira por meio do estabelecimento de linhas editoriais voltadas a problemas relevantes, que exijam respostas complexas — mas comunicadas de forma acessível.
Esse caminho envolve, em alguma medida, um retorno às abordagens que antecederam a ultraespecialização dos campos científicos — um fenômeno que, embora tenha resultado em avanços importantes, talvez precise agora de uma provocação que permita recompor sentidos e conectar diferentes áreas do conhecimento. O objetivo é promover também uma compreensão pública da ciência. Tal iniciativa pode contribuir para sensibilizar pesquisadores sobre a importância do impacto social — e não apenas do impacto acadêmico —, promovendo um debate mais amplo sobre os indicadores de avaliação em ciência e tecnologia utilizados pelas agências de fomento.
Essas prioridades e inovações são, a meu ver, essenciais para que bibliotecas e editoras universitárias cumpram seu papel como agentes de cidadania em uma era que ainda precisa merecer o nome de Era do Conhecimento.