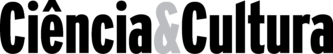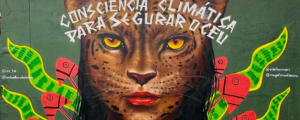Confira entrevista com Priscila Camelier, professora da UFBA e integrante do IctioMulheres
Com um currículo marcado por uma sólida trajetória na pesquisa em Zoologia e na defesa da biodiversidade, a bióloga Priscila Camelier é professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde também coordena o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução (IBIO/UFBA). Integrante dos grupos IctioMulheres e Rede Kunhã Asé, ambos voltados ao fortalecimento de mulheres nas ciências, ela tem atuado ativamente na valorização da presença feminina na academia. “Os dados não mentem: eles mostram a sub-representação das mulheres em cargos de liderança, em palestras, em autoria sênior de artigos, em comissões de avaliação, entre tantos outros espaços”, pontua. Com mestrado em Diversidade Animal e doutorado em Ciências pelo Museu de Zoologia da USP e passagem pela coordenação do Museu de História Natural da Bahia, Priscila Camelier soma décadas de experiência em ictiologia, sistemática e conservação, especialmente da Mata Atlântica. Nesta conversa, ela compartilha reflexões sobre as desigualdades de gênero na ciência, a importância dos museus para divulgar e preservar o conhecimento, e a necessidade de conhecer para poder preservar a fauna e a flora dos diferentes biomas brasileiros. “Conservar, no fim das contas, é mais do que proteger espécies. É preservar histórias, relações biológicas, diferentes culturas e afetos”, ressalta. Com lucidez e firmeza, Priscila Camelier denuncia a realidade de muitas mulheres cientistas, reforça a urgência de ambientes acadêmicos mais inclusivos e fala sobre a importância da resistência, do apoio coletivo e do compromisso com a equidade no avanço da ciência. Para a pesquisadora, “a ciência precisa da diversidade de pensamentos, experiências e sonhos que cada pessoa carrega”.
Confira a entrevista completa!
Ciência & Cultura – Você é uma das principais especialistas em peixes de água doce do Brasil, com pesquisas em sistemática, filogeografia e biogeografia. O que despertou seu fascínio por esses organismos e pela diversidade aquática da Mata Atlântica e outros biomas?
Priscila Camelier – Olha, parece brincadeira o que vou contar, mas foi exatamente assim. Quando entrei no curso de Biologia, em 2002, meu sonho era estudar tubarões, um grupo que sempre me encantou desde a adolescência. No primeiro dia de aula, procurei um professor especialista no grupo para pedir um estágio voluntário. Ele me olhou de cima a baixo, perguntou quanto tempo de curso eu tinha e o que eu queria ali. Quando respondi que aquele era meu primeiro dia de aula, ele riu e disse: “Venha a partir de amanhã, acho que você consegue me ajudar a organizar o laboratório, começaremos pelas minhas referências” e me mostrou uma pilha super bagunçada de papel e livros. Hoje, entendo com clareza o que aconteceu ali, mas na época achei o máximo e saí do laboratório radiante por conseguir um estágio com tubarões. Ainda no corredor, quase em frente ao laboratório, uma veterana que eu já conhecia me perguntou o que estava fazendo ali, e comentou que aquele professor tinha uma fama péssima de destratar as pessoas, especialmente as mulheres. Respondi que meu sonho era estudar tubarões e que estava disposta a aprender com ele apesar de tudo. Ela me pegou pelo braço (literalmente) e disse: “Se você quer estudar peixe, vou te apresentar uma professora maravilhosa. Ela trabalha com peixe de água doce, mas é tudo peixe”. E foi aí que ela me levou até a Rosana Souza-Lima naquele mesmo dia. Quando entrei no laboratório, ela estava examinando um peixe na lupa. Ela levantou a cabeça, sorriu e, simplesmente, perguntou: “Você já viu a boca de um curimba na lupa?”. Nosso primeiro contato foi ela me mostrando a boca e as escamas daquele peixe e me dizendo que ele pertencia ao gênero Prochilodus. Ainda naquele dia, ela me contou que estava na lupa tentando identificar a espécie e que o trabalho de taxonomista era como o de um detetive, e que nosso papel era descobrir a biodiversidade. Ela me fez correr uma chave de identificação e foi uma das tardes mais incríveis da minha graduação.
Quando comecei a entender melhor os processos bióticos e abióticos relacionados à especiação e à história biogeográfica dos organismos, percebi o quanto os peixes de água doce são incríveis como grupo modelo. Esse entendimento só me fez ficar ainda mais fascinada por eles. Hoje, quando mergulho em um rio de água cristalina, meu coração parece que vai explodir de emoção e alegria. Apesar de ter nascido em Salvador e de ser apaixonada pelo mar, nunca senti isso em ambiente marinho. E a Mata Atlântica… ah! Nossa história deve vir de outras vidas. Não sei explicar. Só sei que é o ambiente que mais me encanta no mundo. Acho que, depois da barriga da minha mãe, talvez seja o lugar onde me sinto mais segura e plena. Vai entender…. Esse encantamento pela Mata Atlântica é o que me move até hoje. Por isso, eu tenho me dedicado também a projetos de divulgação e educação ambiental envolvendo o bioma, além dos científicos, claro. Um exemplo muito especial é o livro infantil que estou escrevendo com minha aluna Ellen Monteiro, voltado para crianças de 7 a 10 anos. A ideia é apresentar a Mata Atlântica de forma lúdica e acessível, com destaque para os peixes de água doce, e provocar nas crianças a mesma curiosidade e paixão que a Mata Atlântica me desperta. Porque, no fim das contas, é isso: a gente só cuida daquilo que ama e só ama o que conhece.
“Os museus de história natural têm um papel central na conservação da biodiversidade e na educação científica.”
C&C – Como coordenadora do Museu de História Natural da Bahia, qual é o papel desses espaços na conservação da biodiversidade e na educação científica? E como conciliar a pesquisa acadêmica com a gestão de um museu?
PC – Vou responder essa pergunta de trás para frente! Ingressei na UFBA como docente em julho de 2018 e assumi a coordenação do Museu de História Natural da Bahia (MHNBA) em dezembro do mesmo ano. Fique nesta função até outubro de 2021, quando pedi para sair. Foram anos de muito aprendizado, mas também de grandes desafios. Hoje, com a experiência que tenho, faria muitas coisas de forma diferente. Sem falsa modéstia, tenho certeza de que fui uma excelente coordenadora, apesar de todos os problemas que enfrentamos na época. Mas a coordenação não foi nada boa para a minha saúde mental. E, cada vez mais, eu prezo por ela, por isto, eu conduziria as coisas de forma diferente. Mas, eu sigo amando o MHNBA e desenvolvendo diversos projetos junto ao Museu, além de gerenciar diversas ações e ser curadora da coleção de peixes marinhos. Foi no MHNBA que eu me descobri cientista, que decidi que seria sistemata. Claro que lutarei sempre por este espaço tão importante, inclusive para a minha história pessoal!
Conciliar a pesquisa com qualquer cargo de gestão é sempre um desafio. Por isso, não recomendo que se assuma esse tipo de função tão cedo, como eu fiz. Na época, eu ainda não tinha uma equipe estruturada no meu laboratório, por exemplo, para manter a “roda girando”. Quando a gente tem esse suporte, tudo fica mais viável, ainda que nunca seja fácil. Hoje, estou à frente da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução (PPGBioEvo) e o laboratório que coordeno (o Laboratório de Sistemática e Biogeografia Animal) só tem se mantido ativo graças à minha equipe, que venho formando e treinando com muito cuidado ao longo dos anos.
Bom, agora vamos falar do Museu! Os museus de história natural têm um papel central na conservação da biodiversidade e na educação científica. Eles preservam acervos que contam a história da vida no planeta e fornecem as bases materiais, diretas ou indiretas, para quaisquer pesquisas envolvendo a biodiversidade. As coleções científicas abrigadas por esses museus são fontes eternas de conhecimento científico e muitas vezes guardam os únicos registros de espécies já extintas ou drasticamente ameaçadas. Além do patrimônio material, os museus abrigam aquele outro tipo de patrimônio que é tão importante quanto, que é o patrimônio imaterial, histórico, científico e humano. Ainda, esses espaços são fundamentais para promover o encontro entre ciência e sociedade. No caso do MHNBA, por exemplo, nossas ações educativas sempre buscaram aproximar diferentes públicos da biodiversidade brasileira, com destaque para os ambientes da Bahia e do Nordeste. Trabalhamos com exposições de longa e curta duração, visitas mediadas, produção de materiais didáticos e, mais recentemente, com conteúdos digitais. Tudo isso visando despertar a curiosidade, promover o pensamento crítico e estimular o engajamento com a conservação. Acredito profundamente que os museus não são somente espaços de memória, são lugares vivos de pesquisa, formação e transformação social. E, embora nem sempre tenham o reconhecimento e investimento que merecem, sigo acreditando na potência que têm de formar gerações mais conscientes e conectadas com a vida em todas as suas formas.
C&C – Você integra o Plano de Ação Nacional para Conservação de Peixes Ameaçados da Mata Atlântica. Quais são os maiores desafios para proteger espécies como os peixes de riachos ameaçados por desmatamento e poluição? E como a ciência pode dialogar com políticas públicas efetivas?
PC – Uma das coisas mais interessantes que aprendi participando deste PAN foi que, enquanto cientistas, precisamos urgentemente contribuir para a uma frase clássica na conservação: “não se preserva o que não se conhece”. Essa frase pode parecer simples, mas ela resume um dos maiores desafios que enfrentamos na conservação da ictiofauna de água doce, especialmente em um bioma tão pressionado por diferentes ameaças como a Mata Atlântica. Muitas espécies de peixes de água doce ainda são desconhecidas pela ciência, ou então são mal delimitadas taxonomicamente. Trabalhar com este grupo exige enfrentar, constantemente, os limites entre espécies, tanto do ponto de vista morfológico quanto genético. Às vezes, o que chamamos de uma única espécie é, na verdade, um conjunto de linhagens evolutivas distintas, com histórias próprias e adaptações específicas ao ambiente. Sem o reconhecimento adequado dessas unidades evolutivas, a conservação se torna frágil, pois não conseguimos proteger a real diversidade que existe ali.
A ciência tem um papel fundamental em todo o processo: identificar, descrever, delimitar espécies e entender seus padrões de distribuição e conectividade. Só assim é possível estabelecer prioridades e embasar políticas públicas realmente eficazes. Mas a conservação não se faz somente no laboratório ou nas reuniões científicas e técnicas. Ela exige diálogo com a sociedade e, nisso, os museus, as escolas, as ações de educação ambiental têm uma importância imensa. Um exemplo muito interessante disso é a pesquisa que está sendo desenvolvida por minha aluna Rafaela Barbedo no PPGBioEvo, intitulada “Biofilia e Mata Atlântica: percepções e práticas pedagógicas de professores do ensino fundamental para conservação do meio ambiente”. O projeto parte da ideia de que é preciso criar vínculos afetivos com o ambiente para que ele seja verdadeiramente valorizado, uma ideia que está no cerne do conceito de biofilia. Quando professores conhecem melhor a biodiversidade ao seu redor e se apropriam de estratégias pedagógicas para trabalhar esse conteúdo com seus alunos, toda uma cadeia de sensibilização e engajamento se estabelece. Conservar, no fim das contas, é mais do que proteger espécies. É preservar histórias, relações biológicas, diferentes culturas e afetos. E é por isso que acredito tanto na importância da ciência conectada com a educação e com as políticas públicas: porque só com conhecimento, vínculo e ação coletiva a gente consegue transformar realidades.
“A conservação da ictiofauna brasileira exige urgência, compromisso e ação em múltiplas frentes.”
C&C – O coletivo Ictiomulheres é uma iniciativa importante para dar visibilidade às mulheres na ictiologia. Na sua trajetória, quais barreiras de gênero você enfrentou e como vê a evolução da participação feminina nessa área? Que conselho daria para jovens cientistas que estão começando?
PC – O coletivo Ictiomulheres surgiu em 2015 e tive o privilégio de estar envolvida desde o início. O grupo nasceu do desejo de promover visibilidade e apoio mútuo entre mulheres que atuam na ictiologia, e tem se consolidado também como uma frente de produção de dados sobre as disparidades de gênero na nossa área. Percebemos que para discutir as questões em nossa área, não bastava “apenas” debater opiniões e relatar experiências, era necessário reunir evidências científicas que revelem a disparidade que ainda persiste no meio acadêmico, incluindo a ictiologia. E os dados não mentem: eles mostram a sub-representação das mulheres em cargos de liderança, em palestras, em autoria sênior de artigos, em comissões de avaliação, entre tantos outros espaços. A primeira etapa para enfrentar isso é reconhecer que o problema existe. Precisamos falar sobre o assunto, levantar o debate, romper silêncios que, muitas vezes, acabam naturalizando situações de exclusão. Também precisamos de ações concretas: políticas institucionais, redes de apoio, espaços seguros para trocas e, principalmente, oportunidades. É essencial que mulheres sejam convidadas a palestrar, coordenar projetos, orientar estudantes, tomar decisões. Modelos inspiram. Quanto mais mulheres forem vistas como líderes e referências, mais meninas e jovens cientistas sentirão que esse caminho também pode ser o delas. E isso tem se tornado cada vez mais evidente na ictiologia nacional, especialmente quando levantamos essas questões nos Encontros Brasileiros de Ictiologia ou no âmbito da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Ictiologia (SBI). Certamente tivemos alguns avanços, mas eles ainda são incipientes, especialmente quando adicionamos camadas ao “ser mulher”: ser mulher negra, ser mulher indígena, ser mulher trans, ser mulher e mãe, ser mulher com deficiência… e tantas outras vivências que ainda enfrentam barreiras adicionais de invisibilidade e exclusão.
Particularmente, eu tive a sorte de ter sido “educada” na ciência por mulheres incríveis. Aprendi a fazer ciência com mulheres, a ir para campo com mulheres, a liderar com mulheres. Primeiro, a Rosana Souza-Lima, e depois Angela Zanata, que foi quem ensinou quase tudo ao longo de minha formação. Elas foram minhas mentoras, minhas guias e tenho certeza de que isso moldou profundamente a cientista que sou hoje. Também tive um orientador, Naércio Menezes, que confiou em mim desde o início e isso foi igualmente importante. Mas eu sei que esse não é o cenário para todas. Muitas mulheres enfrentam silenciamentos e desestímulos sutis (ou nem tão sutis assim) todos os dias.
Embora não tenha sido “tão difícil para mim”, fácil também não foi (não é!). Nunca vou esquecer de quando, ainda como coordenadora do Museu de História Natural da Bahia, fui tirar uma dúvida técnica com o mestre de obras sobre o rejunte do chão por conta do peso das coleções científicas. A resposta dele foi: “Se eu explicar, a senhora não vai entender, é que mulher não entende essas coisas”. Nossa, respondi, com toda a calma possível, que eu era bióloga, não pedreira, nem engenheira civil e que, apenas por isso, ele precisava me explicar. Assim como, se ele tivesse alguma dúvida sobre peixes ou sobre biologia, eu certamente teria que explicar para ele, pois ele não entenderia. Mas a verdade é que nem toda mulher consegue ou quer se impor o tempo inteiro. E esse tipo de comentário, mesmo quando “pequeno”, vai minando a confiança, o entusiasmo, a vontade de estar nos espaços. É duro, é complexo! Foi por tudo isso que também aceitei o convite para coordenar localmente as edições em Salvador da Soapbox Science, uma iniciativa internacional de divulgação científica feita exclusivamente por mulheres, pessoas não-binárias ou queers nas áreas STEM. O evento ocupa o espaço público para mostrar que estas pessoas fazem ciência de excelência, acessível e inspiradora. Estar envolvida com esse projeto tem sido transformador.
Às jovens cientistas, especialmente às ictiólogas digo: não deixem que digam o que vocês podem ou não fazer. Se quiserem ir para campo, vão! Se preferirem o laboratório, fiquem! Se quiserem os dois, melhor ainda! A sua trajetória não precisa seguir o molde de ninguém. O importante é que seja sua. A ciência precisa da diversidade de pensamentos, experiências e sonhos que cada pessoa carrega. E quando bater a dúvida, quando vier o cansaço, procurem apoio. Sempre haverá alguém, uma rede, uma colega, uma mentora, com quem você pode contar.
C&C – Sua pesquisa combina taxonomia clássica com ferramentas genéticas. Como a integração dessas abordagens tem revolucionado o estudo da biodiversidade de peixes no Brasil? E quais são as descobertas mais surpreendentes que já fez em suas expedições?
PC – A integração entre a taxonomia clássica e as ferramentas genéticas tem sido uma revolução muito interessante no estudo da biodiversidade de peixes no Brasil. A morfologia continua sendo indispensável, eu sou desta escola e não abro mão. Às vezes, no entanto, os dados morfológicos que obtemos não são suficientes para elucidar a complexidade taxonômica ou evolutiva dos grupos que estudamos. Quando aliamos esse olhar detalhado a dados moleculares, conseguimos, por exemplo, delimitar espécies de alguns grupos com muito mais precisão, identificar linhagens crípticas e compreender padrões históricos de diversificação. Isso é especialmente importante no caso dos peixes de água doce, que vivem em ambientes fragmentados por natureza e frequentemente apresentam limites interespecíficos muito sutis. Em diversos casos, o que parecia ser uma única espécie revelou-se um complexo com várias unidades evolutivas distintas, cada uma com sua própria história e necessidade de conservação. E o contrário também acontece: populações morfologicamente distintas que, na verdade, são geneticamente muito semelhantes, o que nos desafia a repensar os limites intra e interespecíficos.
Sou particularmente apaixonada pela Mata Atlântica, e é nesse bioma que concentro boa parte das minhas pesquisas. Mas também já trabalhei com peixes da bacia Amazônica, do São Francisco e de outras ecorregiões de águas neotropicais. Coletar é uma das coisas que mais amo fazer em nossa profissão. Eu já perdi a conta de quantas expedições participei em minha carreira, mas sei que, graças aos peixes, conheço o Brasil quase inteiro, de Norte a Sul, Leste a Oeste. Já viajei para todas as regiões brasileiras e coletei em 19 dos 26 estados do nosso país. Em cada expedição, o que mais me impressiona é perceber que ainda sabemos muito pouco. Mesmo em áreas consideradas bem conhecidas, continuamos encontrando espécies não descritas, variações inesperadas, estruturações genéticas que contradizem muito do que a gente sabia. Estas descobertas me fascinam! Ao longo da minha trajetória, já descrevi mais de 20 espécies novas de peixes, e não há sensação mais mágica do que olhar um bicho na lupa, comparar com tudo que se conhece e perceber que estamos diante de algo único, que ninguém tinha documentado antes. Cada uma dessas descrições é um passo na construção do conhecimento sobre a nossa biodiversidade. E mais do que publicar nomes novos, o que me move é contribuir para que essas espécies tenham a chance de existir no futuro.
“Acredito que ciência e educação são ferramentas poderosas para transformar realidades.”
C&C – Olhando para o futuro, quais são as prioridades urgentes para conservar a ictiofauna brasileira, especialmente em regiões como a Bahia, onde rios e ecossistemas aquáticos estão sob pressão?
PC – A conservação da ictiofauna brasileira exige urgência, compromisso e ação em múltiplas frentes. Para mim, tudo começa pelo reconhecimento da importância desses ambientes e dos organismos que os habitam. Ainda é muito comum que os rios sejam vistos apenas como recursos (para abastecimento, para irrigação, para geração de energia), e não como sistemas vivos, dinâmicos, que abrigam uma biodiversidade riquíssima, muitas vezes endêmica e ameaçada. Na Bahia, por exemplo, muitos dos nossos rios já estão fortemente impactados pela introdução de espécies exóticas (como, por exemplo, a tilápia e o bagre africano), por desmatamento, poluição, represamento e captação desordenada de água. Isso afeta diretamente a fauna aquática, especialmente os peixes de riachos, que incluem espécies de menor porte e, muitas vezes, mais susceptíveis às ameaças. Proteger essas espécies requer não apenas unidades de conservação, mas também políticas públicas eficazes de manejo dos recursos hídricos, fiscalização ambiental e, sobretudo, educação. A educação tem um papel transformador. No fundo, acredito que ciência e educação são ferramentas poderosas para transformar realidades. Meu maior objetivo sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas, e quando descobri que posso fazer isso estudando peixes, escrevendo projetos, formando estudantes, montando exposições ou até escrevendo um livro infantil sobre a Mata Atlântica, tudo passou a fazer sentido. Conservar a ictiofauna é também garantir que as próximas gerações conheçam, se encantem e se comprometam com a biodiversidade. E isso só será possível se conseguirmos fortalecer as pontes entre ciência, políticas públicas e sociedade. Precisamos produzir conhecimento, mas também comunicar, engajar, inspirar. A gente tem tentado fazer isso através das nossas ações, muitas das quais divulgamos no Instagram do Grupo Ictiologia_UFBA, que coordeno com Angel Zanata. Porque, no fim das contas, ninguém preserva o que não conhece e ninguém luta por aquilo com que não se conecta.