O mito popular e a ciência por trás da criatura
Frankenstein não começa como um conto de terror — começa como uma pergunta incômoda. O que acontece quando o desejo de conhecer ultrapassa a capacidade de assumir consequências? Ao longo de mais de dois séculos, a resposta foi sendo coberta por imagens fáceis: um monstro costurado, pinos no pescoço, um cientista em delírio cercado por raios e engrenagens. Essa iconografia é tão poderosa que sobrevive mesmo entre quem nunca leu uma linha do romance “Frankenstein ou o Prometeu Moderno” da escritora britânica Mary Shelley. Mas ela também funciona como um véu. Ao transformar Frankenstein em espetáculo, perdemos de vista aquilo que realmente sustenta a obra: uma reflexão profunda sobre ciência, poder e responsabilidade — tão perturbadora hoje quanto em 1818.
O primeiro equívoco é elementar, mas revelador: Frankenstein não é o nome da criatura, e sim de seu criador, Victor Frankenstein, um jovem estudante de ciências naturais. A confusão persistente diz muito sobre o destino cultural da obra. Ao longo do tempo, o foco se deslocou da crítica à ambição científica para a figura do “monstro”, como se o problema estivesse na criatura — e não na decisão de criá-la e abandoná-la. Mary Shelley, no entanto, nunca escreveu uma história sobre monstros; escreveu sobre escolhas humanas.
O lançamento recente de “Frankenstein – Only Monsters Play God” (2025), dirigido pelo cineasta e roteirista mexicano Guillermo del Toro, reacendeu esse debate. O filme é visualmente exuberante e confirma a habilidade do cineasta em construir atmosferas densas e criaturas memoráveis. Ainda assim, apesar do apuro estético, a narrativa pouco avança em relação ao dilema central já exaustivamente adaptado. É justamente aí que o romance original se impõe: Frankenstein não é uma fábula sobrenatural, mas uma obra profundamente ancorada na ciência, na filosofia natural e nas inquietações intelectuais do início do século XIX — muitas das quais seguem abertas.
Um romance sobre criação, culpa e poder
Escrito entre 1816 e 1817, Frankenstein é frequentemente classificado como terror gótico, mas essa etiqueta é insuficiente. O livro trata da origem da vida, da figura do criador e dos limites do conhecimento humano, mas o faz por meio de uma arquitetura narrativa sofisticada. A história se constrói em camadas, com três narradores que oferecem versões distintas da mesma tragédia.
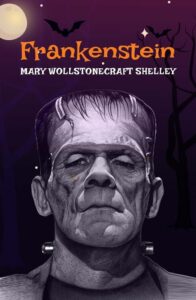
(Imagem: Divulgação)
O capitão Robert Walton abre o romance relatando, em cartas à irmã, seu encontro com Victor Frankenstein durante uma expedição científica ao Ártico. Em seguida, Victor assume a narrativa, descrevendo sua formação intelectual, sua obsessão pelo conhecimento e o projeto que culmina na criação da criatura. Por fim, a própria criatura ganha voz — talvez o gesto mais radical de Shelley — e apresenta uma perspectiva marcada por lucidez, sensibilidade e consciência moral.
Essa multiplicidade de vozes desfaz qualquer leitura simplista. Victor surge não apenas como um cientista brilhante, mas como alguém incapaz de lidar com os efeitos de sua ambição. A criatura, por sua vez, não nasce violenta: torna-se agressiva após sucessivas experiências de rejeição e abandono. O romance não oferece vilões fáceis. Em vez disso, constrói um conflito ético em que responsabilidade e culpa se deslocam constantemente.
Anatomia e o corpo como máquina
A ciência que permeia Frankenstein reflete debates reais do seu tempo. A partir do século XVI, a dissecação sistemática de cadáveres humanos transformou o corpo em objeto de estudo detalhado. No século XVII, essa prática consolidou uma visão mecanicista do organismo: o corpo passou a ser entendido como uma máquina complexa, composta por partes interdependentes. William Harvey, ao descrever o coração como uma bomba, tornou-se símbolo dessa mudança de paradigma.
“Mary Shelley não escreveu uma história sobre monstros, mas sobre escolhas humanas — e suas consequências.”
No século XVIII, o interesse pela anatomia se intensificou, especialmente entre estudantes de medicina. Na Inglaterra, a escassez de cadáveres legalmente disponíveis levou à proliferação dos chamados “ladrões de corpos”, que roubavam cadáveres de cemitérios para abastecer escolas médicas. Esse cenário sombrio não é um exagero literário: ele está diretamente incorporado à trajetória de Victor Frankenstein, que coleta fragmentos humanos para montar sua criação.
Shelley também dialoga com figuras reais da ciência, como o cirurgião John Hunter, conhecido por dissecações, experimentos de ressuscitação em animais e intervenções ousadas no corpo humano. A ideia de que o organismo poderia ser desmontado, reparado e reconstruído — ainda que os transplantes humanos estivessem longe de se tornar realidade — alimentava a imaginação científica da época. Frankenstein leva essa lógica ao limite e expõe suas implicações morais.
Eletricidade, galvanismo e a ilusão do “sopro da vida”
Outro pilar científico do romance é o fascínio pela eletricidade. Nos séculos XVIII e XIX, as fronteiras entre física, química, biologia e filosofia natural eram porosas. A eletricidade, recém-identificada como fenômeno mensurável, passou a ser associada à própria essência da vida.
Os experimentos de Luigi Galvani, que demonstraram contrações musculares em animais mortos submetidos a estímulos elétricos, deram origem ao galvanismo e alimentaram a hipótese de uma “força vital” elétrica. Essa ideia rapidamente extrapolou os círculos acadêmicos. Giovanni Aldini, sobrinho de Galvani, realizou demonstrações públicas em cadáveres humanos, provocando movimentos visíveis que fascinavam e aterrorizavam plateias.
Embora o romance nunca descreva explicitamente raios ou tempestades no momento da criação — um detalhe introduzido pelo cinema —, o imaginário elétrico permeia a obra. Shelley captura com precisão o espírito de uma época em que a ciência parecia à beira de decifrar o segredo da vida, sem ainda compreender o peso ético dessa descoberta.
Ambição científica e responsabilidade
Frankenstein é frequentemente apontado como uma das primeiras obras de ficção científica não por antecipar tecnologias futuristas, mas por integrar descobertas reais à narrativa. O terror do livro não nasce do sobrenatural, e sim da plausibilidade. O leitor é levado a pensar: isso poderia acontecer.

(Imagem: Divulgação)
Mary Shelley não condena o conhecimento científico em si. O alvo de sua crítica é a ambição sem responsabilidade. Victor Frankenstein não é punido por ousar saber, mas por criar e abandonar. Ao se recusar a assumir qualquer dever moral em relação à criatura, ele desencadeia uma cadeia de sofrimento que escapa ao seu controle.
Essa reflexão dialoga diretamente com a Revolução Industrial, quando o progresso técnico avançava mais rápido do que a capacidade social de lidar com seus efeitos. Dois séculos depois, a pergunta permanece desconfortavelmente atual: quem responde pelas consequências da inovação?
Por que Frankenstein ainda importa
Frankenstein sobrevive porque se recusa a oferecer respostas fáceis. É um romance profundamente enraizado na ciência de seu tempo, mas voltado para dilemas universais. Anatomia, eletricidade e filosofia vitalista não aparecem como pano de fundo decorativo, e sim como motores da narrativa.
“Frankenstein sobrevive porque se recusa a oferecer respostas fáceis para os dilemas do progresso científico.”
Ler Frankenstein hoje — ou revisitar suas adaptações com olhar crítico — é confrontar um espelho incômodo. A criatura não é um erro da natureza, mas o resultado direto das escolhas humanas. Talvez seja por isso que a história continue retornando. Não porque tenha algo novo a dizer, mas porque seguimos insistindo nas mesmas perguntas — apenas com tecnologias diferentes.
Referências
SHELLEY, Mary. Frankenstein ou o Prometeu Moderno. 1818.
DEL TORO, Guillermo (dir.). Frankenstein. Estados Unidos, 2025.
(Capa: Divulgação)









